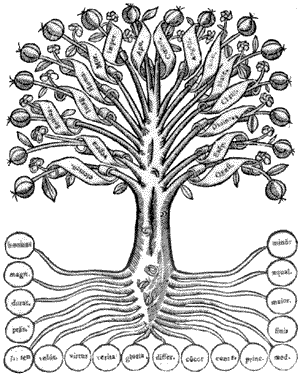(gr. eleutheria; lat. libertas; in. Freedom, Liberty; fr. Liberte; al. Freiheit; it. Liberta).
Esse termo tem três significados fundamentais, correspondentes a três concepções que se sobrepuseram ao longo de sua história e que podem ser caracterizadas da seguinte maneira: 1) liberdade como autodeterminação ou autocausalidade, segundo a qual a liberdade é ausência de condições e de limites; 2) liberdade como necessidade, que se baseia no mesmo conceito da precedente, a autodeterminação, mas atribuindo-a à totalidade a que o homem pertence (Mundo, Substância, Estado); 3) liberdade como possibilidade ou escolha, segundo a qual a liberdade é limitada e condicionada, isto é, finita. Não constituem conceitos diferentes as formas que a liberdade assume nos vários campos, como p. ex. liberdade metafísica, liberdade moral, liberdade política, liberdade econômica, etc. As disputas metafísicas, morais, políticas, econômicas, etc, em torno da liberdade são dominadas pelos três conceitos em questão, aos quais, portanto, podem ser remetidas as formas específicas de liberdade sobre as quais essas disputas versam.
1) Para a primeira concepção, de liberdade absoluta. incondicional e, portanto, sem limitações nem graus, é livre aquilo que é causa de si mesmo. Sua primeira expressão encontra-se em Aristóteles. Embora a análise aristotélica do voluntarismo das ações pareça recorrer ao conceito da liberdade finita, a definição de voluntário é a mesma de liberdade infinita: voluntário é aquilo que é “princípio de si mesmo”. Aristóteles começa afirmando que a virtude e o vício dependem de nós; e prossegue: “Nas coisas em que a ação depende de nós a não-ação também depende; e nas coisas em que podemos dizer não também podemos dizer sim. De tal forma que, se realizar uma boa ação depende de nós, também dependerá de nós não realizar má ação” (Et. Nic, III, 5, 1113 b 10). Isso já fora dito por Platão no mito de Er. Mas para Aristóteles significa que “o homem é o princípio e o pai de seus atos, assim como de seus filhos” (Ibid.). De fato, “só para quem tem em si mesmo seu próprio princípio, o agir ou o não agir depende de si mesmo” (Ibid., III,. 1, 1110 a 17); assim o homem “é o princípio de seus atos” (Ibid., III, 3, 1112 b 15-16). Essa noção de “princípio de si mesmo” é a definição da lei incondicionada, encontrada, p. ex., em Cícero: “Para os movimentos voluntários da alma não se deve procurar uma causa alheia, pois o movimento está em nosso poder e depende de nós: nem por isso é sem causa, visto que sua causa é sua própria natureza” (De fato, II). Em Epicuro, a noção de liberdade tinha o mesmo significado de autodeterminação absoluta, que para ele começava nos átomos, aos quais atribuía o poder de desviar-se da própria trajetória. Lucrécio diz: “Podemos desviar nossos movimentos sem sermos determinados pelo tempo nem pelo lugar, mas pelo que nos inspira nosso espírito; pois sem dúvida a vontade é o princípio desses atos e através dela o movimento se expande por todos os membros” (De rer. nat., II, 260). A noção de liberdade como autocausalidade ou autodeterminação (autopragia) também é o fundamento do conceito de liberdade como necessidade. Os estoicos admitiam que eram livres as ações que têm em si mesmas causa ou princípio: “Só o sábio é livre, e todos os malvados são escravos, pois liberdade é autodeterminação, enquanto escravidão é falta da autodeterminação” (Diógenes Laércio, VII, 121). Epicteto, consequentemente, dizia que eram “livres” as coisas que estão “em nosso poder”, ou seja, os atos do homem que têm princípio no próprio homem (Dis., 1,1).
Este conceito foi transmitido durante toda a Idade Média. Orígenes foi o primeiro a defendê-lo no mundo cristão, esclarecendo-o no sentido de que a liberdade consiste não só em ter em si a causa dos próprios movimentos, mas também em ser essa causa. Esta definição, que se aplica a todos os seres vivos, privilegia o homem porque a causa dos movimentos, humanos é aquilo que o próprio homem escolhe como móbil, enquanto juiz e árbitro das circunstâncias externas (De princ, III, 5). Considerações análogas ocorrem em De libero arbítrio de S. Agostinho (cf., p. ex., I, 12; III, 3; III, 25). Em outro trecho ele diz: “Sente que a alma se movimenta por si só quem sente em si a vontade” (Dediv. quaest., 83, 8). Alberto Magno dizia que era livre o homem que é causa de si e que não é coagido pelo poder de outro (S. Th., II, 16, 1). E, para Tomás de Aquino, “o livre-arbítrio é a causa do movimento porque pelo livre-arbítrio o homem determina-se a agir”. Tomás de Aquino acrescenta que, para existir liberdade, não é necessário que o homem seja a primeira causa de si mesmo, como de fato não é, pois a primeira causa é Deus. Mas a Primeira Causa não impede a autocausalidade do homem (Ibid., I, q. 83, a. 1; cf. Contra Gent., II, 48). A última escolástica manteve esse conceito de liberdade, aliás acentuando a indiferença da vontade com relação aos seus possíveis determinantes. Duns Scot afirma que “a liberdade da nossa vontade consiste em poder decidir-se por atos opostos, seja depois, seja no mesmo instante” (Op. Ox, I, d. 39, q. 5, n. 16).
Esta possibilidade de decidir-se por atos opostos expressa a perfeita indiferença da vontade com relação a todas as motivações possíveis. Ockham, mesmo negando a possibilidade simultânea de atos opostos, também frisa a indiferença absoluta da vontade: “Por liberdade entende-se o poder de, indiferente e contingentemente, propor coisas diferentes, de tal forma que posso causar ou não o mesmo efeito, sem que haja diversidade alguma, a não ser nesse poder” (Quodl, I, q. 16). Mas Ockham não julga que seja possível demonstrar que a vontade é livre nesse sentido. A liberdade só pode ser conhecida por experiência, pois “o homem sente que, mesmo que a razão lhe dite alguma coisa, a vontade pode querê-la ou não” (Ibid., I, q. 16). Buridan observava a esse respeito que a liberdade não consiste em poder deixar de seguir o juízo do intelecto, porque, se o intelecto reconhecesse com evidência que dois bens são perfeitamente iguais, não poderia decidir-se nem por nenhum dos dois; consiste, sim, em poder suspender ou impedir o juízo do intelecto (In Eth., III, q. 1-4). E assim propunha as premissas do caso que se denominou O Asno de Buridan : este, por não ter liberdade, morre de fome na mesma condição em que o homem pode suspender o juízo e fazer arbitrariamente a escolha.
O conceito de autopraghia ou causa sui ocorre com frequência na filosofia moderna e contemporânea. “A substância livre” — diz Leibniz — “determina-se por si mesma, seguindo o motivo do bem que é percebido pela inteligência, que a inclina sem necessitá-la: todas as condições da liberdade estão compreendidas nestas poucas palavras” (Théod., III, § 288). Este mesmo conceito levou Kant a admitir o caráter “numênico” da liberdade: “Se tivermos de admitir a liberdade como propriedade de certas causas dos fenômenos, ela deve, em relação aos fenômenos como eventos, ter a faculdade de iniciar por si (sponte) a série de seus efeitos, sem que a atividade da causa precise ter início e sem que seja necessária outra causa que determine tal início” (Prol, § 53). A “faculdade de iniciar por si um evento” é exatamente a causa sui do conceito tradicional de liberdade. Esta é também denominada, no mesmo sentido, “espontaneidade absoluta”, ou seja, atividade que não recebe outra determinação senão de si mesma (Crít. R. Pura, I, livro I, cap. III, Elucidação crítica). Mas, mesmo como causa sui ou espontaneidade absoluta, “a causa livre, em seus estados, não pode ser submetida a determinações de tempo, não deve ser um fenômeno, deve ser uma coisa em si e só os seus efeitos devem ser julgados fenômenos” (Prol, § 53). Kant quis conciliar a liberdade humana, como poder de autodeterminação, com o determinismo natural que, para ele, constitui a racionalidade da natureza; por isso considerou a liberdade como númeno, pois aquilo que, de um ponto de vista (dos fenômenos), pode ser considerado necessidade, de outro ponto de vista (do númeno), pode ser considerado liberdade Mas o conceito de liberdade não sofreu inovação alguma com esse artifício kantiano. Esse mesmo conceito é expresso por Fichte: “A absoluta atividade também é denominada liberdade A liberdade é a representação sensível da auto-atividade” (Sittenlehre, Intr., 7, em Werke, IV, p. 9).
Esse mesmo conceito está hoje presente em todas as formas de indeterminismo . Nas formas espiritualistas do indeterminismo (que são as mais difundidas), a autodeterminação é considerada uma experiência interior fundamental, uma espécie de criação “interior”; torna-se a “autocriação do eu”. Maine de Biran afirma: “A liberdade ou a ideia de liberdade, tomada em sua fonte real, nada mais é que o sentimento que temos de nossa atividade ou desse poder de agir, de criar o esforço constitutivo do eu” (Essai sur les fondements de la psychologie, 1812, em OEuvres, ed. Naville, I, p. 284). Concepção análoga pode ser encontrada em Mikrokosmus de Lotze (I, pp. 283 ss.) e, com alguma atenuação, em Nouvelle monadologie, de Renouvier (pp. 24 ss.). O espiritualismo francês, com Sécretan, Ravaisson, Lachelier, Boutroux, Hamelin, atém-se estritamente a esse mesmo conceito. “O conhecimento das leis das coisas” — diz Boutroux — “permite-nos dominá-las e assim, em vez de prejudicar nossa liberdade, o mecanismo torna-a eficaz.” Portanto, não somente as coisas internas, como queria Epicteto, mas também as externas dependem de nós (De l’idée de loi naturelle, 1895, pp. 133, 143). Desse ponto de vista, o motivo não é a causa necessitante da ação. humana: a vontade dá preferência a um motivo mais que a outro, e o motivo mais forte não o é independentemente da vontade, mas sim em virtude dela (La contingence de lois de la nature, 1874, p. 124). O conceito bergsoniano de liberdade outra coisa não faz senão reexpor essa mesma tese. Bergson afirma que o conceito de liberdade por ele defendido situa-se entre a noção de liberdade moral, isto é, da “independência da pessoa perante tudo o que não é ela mesma”, e a noção de livre-arbítrio, segundo o qual aquilo que é livre “depende de si mesmo assim como um efeito depende da causa que o determina necessariamente”. Contra esta última concepção, Bergson objeta que os atos livres são imprevisíveis e que, portanto, não se lhes pode aplicar a causalidade, segundo a qual causas iguais têm efeitos iguais. Por isso, a liberdade continua indefinível; e deve ser identificada com o processo da vida consciente, ou seja, com a duração real (Essais sur les données immédiates de la conscience, 1899, pp. 131 ss.). Mas na realidade o conceito de livre-arbítrio partia precisamente da imprevisibilidade dos fatos humanos (os chamados “futuros contingentes”) e da autocausalidade da vontade. A doutrina bergsoniana nega a indiferença da vontade aos motivos, somente para sustentar que a vontade cria ou constitui os motivos e confere-lhes a força determinante de que dispõem. Mas dessa forma a autodeterminação continua sendo definição de liberdade; como tal permanece também no conceito (proposto por F. Lombardi, La liberta del volere e l’individuo, 1941, p. 192) de ato ou movimento que “se reproduz ou se produz continuamente”, levando consigo, nessa autoprodução, “todo o mundo em que atua”. Não tem sentido diferente a doutrina de Sartre, para quem a liberdade é a escolha que o homem faz de seu próprio ser e do mundo. “Mas exatamente por se tratar de uma escolha, na medida em que é feita, essa escolha geralmente indica outras tantas como possíveis. A possibilidade dessas outras escolhas não é explicitada nem proposta, mas é vivida no sentimento de injustificabilidade e expressa na absurdidade da minha escolha, consequentemente do meu ser. Assim, minha liberdade devora a minha liberdade Sendo livre, projeto o meu possível total, mas com isto proponho que sou livre e que posso aniquilar esse meu primeiro projeto e relegá-lo ao passado” (L’être et le néant, p. 560). Mas uma escolha que não tem nada a escolher, que não é limitada por determinadas condições, de escolha só tem o nome; na realidade, é uma autocriaçâo gratuita. A doutrina de Sartre só faz levar ao extremo o antigo conceito de liberdade como autocausalidade.
Recorrem a este conceito tanto o indeterminismo quanto o determinismo. O que o determinismo nega é o mesmo que o indeterminismo afirma: a possibilidade de uma causa sui. Vimos que o próprio Kant considerava-a impossível no domínio dos fenômenos e a confiava ao domínio do númeno: foi o que fez também Schopenhauer, que considerou válidas as razões apresentadas por Priestley em sua Doutrina da necessidade filosófica (v. determinismo) e afirmou que a liberdade como autocausalidade é apenas da vontade como força numênica ou metafísica, da vontade como princípio cósmico (Die Welt, I, § 55). Em geral o determinismo consiste em julgar universal o alcance do princípio de causalidade em sua força empírica e portanto em negar a causalidade autônoma. Neste sentido, Claude Bernard afirmava a inércia dos corpos vivos tanto quanto dos inorgânicos, que é a incapacidade de entrar em movimento por si mesmos: e nessa inércia percebia a condição para o reconhecimento do determinismo absoluto (Intr à l’étude de la medicine expérimentale, 1865, II, 8).
O equivalente político da concepção de liberdade como autocausalidade é a noção de liberdade como ausência de condições ou de regras e recusa de obrigações; numa palavra, anarquia. Na maioria das vezes, esse conceito é utilizado como instrumento de polêmica, para negar a própria liberdade Platão foi o primeiro a fazer isso quando pretendeu demonstrar que da demasiada liberdade concedida pelo regime democrático nascem a tirania e a escravidão. De fato, a recusa constante de limites e restrições “torna os cidadãos tão suscetíveis que, tão logo se lhes proponha algo que pareça ameaçar sua liberdade, eles se melindram, rebelam-se e terminam rindo das leis escritas e não escritas, porque não querem de forma alguma submeter-se a nenhum comando” (Rep., VIII, 563 d). A liberdade aqui é entendida (não por Platão, como veremos mais adiante) como ausência de medida, recusa de normas. O ilimitado poder sobre todas as coisas, que, para Hobbes, constitui a liberdade em estado natural (De Cive, I, § 7), tem o mesmo significado. Filmer acreditava estar expressando o significado da doutrina de Hobbes quando dizia: “A liberdade consiste em cada um fazer o que lhe aprouver, em viver como quiser, sem estar vinculado a lei nenhuma” (Observations upon Mr. Hobbes’s Leviathan, 1652, p. 55). Mas talvez a melhor e mais coerente expressão dessa noção de liberdade seja o Único de Max Stiner: o indivíduo que não tem causa fora de si, que é sua própria causa e causa de tudo. Nessa forma extrema a tese da liberdade anárquica raramente é defendida: na maioria das vezes é pressuposta como termo de polêmica, reduzindo-se a ela (em boa ou má-fé) as demais concepções de liberdade política.
2) A segunda concepção fundamental identifica liberdade com necessidade. Esta concepção tem estreito parentesco com a primeira. O conceito de liberdade a que se refere é ainda o de causa sui; contudo, como tal, a liberdade é não atribuída à parte, mas ao todo: não ao indivíduo, mas à ordem cósmica ou divina, à Substância, ao Absoluto, ao Estado. A origem dessa concepção está nos estoicos, para os quais, como vimos, “a liberdade consiste na autodeterminação e portanto só o sábio é livre” (Dióg. liberdade, VII, 121). Mas por que o sábio é livre? Porque só ele vive em conformidade com a natureza, só ele se conforma à ordem do mundo, ao destino (Diógenes Laércio, VII, 88; Stobeo, Flor., VI, 19; Cícero, De fato, 17). A liberdade do sábio coincide, portanto, com a necessidade da ordem cósmica. Crisipo, porém, procura fugir a essa consequência distinguindo as causas perfeitas e principais das causas auxiliares e próximas; o destino age sobretudo através das primeiras, mas entre as últimas está o assentimento que o homem dá às coisas e, consequentemente, sua ação. É como acontece com o cilindro: basta dar um empurrãozinho para que ele role por um plano inclinado: graças à natureza do cilindro e do plano, ele continuará rolando se for empurrado, mas para que isso aconteça é necessário o empurrão. Da mesma forma, a ordem das.coisas é tal que, uma vez iniciadas, as ações continuam de determinado modo, mas, para que sejam iniciadas, é necessário o assentimento do homem e esse assenti-mento permanece em poder dele (Cícero, De fato, 18-19). Todavia para Crisipo também a liberdade é apenas adequação entre assentimento humano e ordem cósmica: as causas auxiliares pertencem à ordem necessária do mundo tanto quanto as causas principais, e o empurrão que faz o cilindro rolar pertence a essa ordem tanto quanto a forma do cilindro e o plano sobre o qual ele rola. Desse ponto de vista, negar que o homem como tal é livre e afirmar que ele é livre enquanto manifestação da autodeterminação cósmica ou divina são a mesma coisa. Tudo fica muito claro na formulação de Spi-noza: “diz-se que é livre o que existe só pela necessidade de sua natureza e que é determinado a agir por si só enquanto é necessário ou coagido aquilo que é induzido a existir e a agir por uma outra coisa, segundo uma razão exata e determinada” (Et., I, def. 7). Nesse sentido, só Deus é livre, pois só Ele age com base nas leis de sua natureza e sem ser obrigado por ninguém (Ibid., I, 17, corol. II), ao passo que o homem, como qualquer outra coisa, é determinado pela necessidade da natureza divina e pode julgar-se livre somente enquanto ignora as causas de suas volições e de seus desejos (Ibid, I, ap.; II, 48). Contudo, poderá tornar-se livre se for guiado pela razão (Ibid., IV, 66, scol.), se agir e pensar como parte da Substância Infinita e reconhecer em si a necessidade universal dela (Ibid., V, VI, scol.). Em outros termos, o homem torna-se livre através do amor intelectual por Deus (que é exatamente o conhecimento da necessidade divina): amor que é idêntico ao amor com que Deus se ama (Ibid., V, 36, scol.). Nenhuma inovação foi introduzida nesse ponto de vista pela elaboração e ampliação feitas pela filosofia romântica. Schelling afirma explicitamente a coincidência entre liberdade e necessidade: “O Absoluto age por meio de cada inteligência, ou seja, sua ação é absoluta porquanto não é livre nem desprovida de liberdade, mas as duas coisas ao mesmo tempo: absolutamente livre e por isso também necessária” (System des transzendentalen Idealismus, IV, E). Em Investigações filosóficas sobre a essência da liberdade humana (1809), Schelling transfere para Deus, ou melhor, para a natureza ou fundamento de Deus, o ato com que o homem escolhe essa natureza ou fundamento, pelo qual todas suas inclinações ou ações serão determinadas. A tendência a atribuir a liberdade ao Absoluto e a identificá-la com a necessidade explicita-se assim como característica típica da concepção romântica. Hegel contrapõe “o conceito abstrato de liberdade”, isto é, a liberdade como exigência ou possibilidade, à “liberdade concreta”, que é a “liberdade real” ou “a própria realidade” do espírito ou dos homens (Enc., § 482; Fil. do dir, § 33, Zusatz). Essa liberdade real, realidade mesma do homem, é o Estado, que, exatamente por isso, é considerado “Deus real” (Fil. do dir., § 258, Zusatz). O Estado é “a realidade da liberdade concreta” (Ibid., § 260). Isso significa que ele “é a realidade em que o indivíduo tem liberdade e a usufrui, mas só quando o indivíduo é ciência, fé e vontade do universal. Assim, o Estado é o centro dos outros aspectos concretos da vida: direito, arte, costumes, bem-estar. No Estado, a liberdade é realizada objetiva e positivamente”. Isto não significa que a vontade subjetiva do indivíduo se realize através da vontade universal, que seria, portanto, um meio para ela; significa que a vontade universal se realiza através dos cidadãos, que, nesse aspecto, são seus instrumentos. “O direito, a moral e o Estado, e somente eles, são segundo o qual aquilo que é livre “depende de si mesmo assim como um efeito depende da causa que o determina necessariamente”. Contra esta última concepção, Bergson objeta que os atos livres são imprevisíveis e que, portanto, não se lhes pode aplicar a causalidade, segundo a qual causas iguais têm efeitos iguais. Por isso, a liberdade continua indefinível; e deve ser identificada com o processo da vida consciente, ou seja, com a duração real (Essais sur les données immédiates de la conscience, 1899, pp. 131 ss.). Mas na realidade o conceito de livre-arbítrio partia precisamente da imprevisibilidade dos fatos humanos (os chamados “futuros contingentes”) e da autocausalidade da vontade. A doutrina bergsoniana nega a indiferença da vontade aos motivos, somente para sustentar que a vontade cria ou constitui os motivos e confere-lhes a força determinante de que dispõem. Mas dessa forma a autodeterminação continua sendo definição de liberdade; como tal permanece também no conceito (proposto por F. Lombardi, La liberta del volere e l’individuo, 1941, p. 192) de ato ou movimento que “se reproduz ou se produz continuamente”, levando consigo, nessa autoprodução, “todo o mundo em que atua”. Não tem sentido diferente a doutrina de Sartre, para quem a liberdade é a escolha que o homem faz de seu próprio ser e do mundo. “Mas exatamente por se tratar de uma escolha, na medida em que é feita, essa escolha geralmente indica outras tantas como possíveis. A possibilidade dessas outras escolhas não é explicitada nem proposta, mas é vivida no sentimento de injustificabilidade e expressa na absurdidade da minha escolha, consequentemente do meu ser. Assim, minha liberdade devora a minha liberdade Sendo livre, projeto o meu possível total, mas com isto prononho que sou livre e que posso aniquilar esse meu primeiro projeto e relegá-lo ao passado” (L’être et le néant, p. 560). Mas uma escolha que não tem nada a escolher, que não é limitada por determinadas condições, de escolha só tem o nome; na realidade, é uma autocriação gratuita. A doutrina de Sartre só faz levar ao extremo o antigo conceito de liberdade como autocausalidade.
Recorrem a este conceito tanto o indeterminismo quanto o determinismo. O que o determinismo nega é o mesmo que o indeterminismo afirma: a possibilidade de uma causa sul Vimos que o próprio Kant considerava-a impossível no domínio dos fenômenos e a confiava ao domínio do númeno: foi o que fez também Schopenhauer, que considerou válidas as razões apresentadas por Priestley em sua Doutrina da necessidade filosófica (v. determinismo) e afirmou que a liberdade como autocausalidade é apenas da vontade como força numênica ou metafísica, da vontad: como princípio cósmico (Die Welt, I, § 55). Em geral o determinismo consiste em julgar universal o alcance do princípio de causalidade em sua força empírica e portanto em negar a causalidade autônoma. Neste sentido, Claude Bernard afirmava a inércia dos corpos vivos tanto quanto dos inorgânicos, que é a incapacidade de entrar em movimento por si mesmos: e nessa inércia percebia a condição para o reconhecimento do determinismo absoluto (Intr. à l’étude de la medicine expérimentale, 1865, II, 8).
O equivalente político da concepção de liberdade como autocausalidade é a noção de liberdade como ausência de condições ou de regras e recusa de obrigações; numa palavra, anarquia. Na maioria das vezes, esse conceito é utilizado como instrumento de polêmica, para negar a própria liberdade Platão foi o primeiro a fazer isso quando pretendeu demonstrar que da demasiada liberdade concedida pelo regime democrático nascem a tirania e a escravidão. De fato, a recusa constante de limites e restrições “torna os cidadãos tão suscetíveis que, tão logo se lhes proponha algo que pareça ameaçar sua liberdade, eles se melindram, rebelam-se e terminam rindo das leis escritas e não escritas, porque não querem de forma alguma submeter-se a nenhum comando” (Rep., VIII, 563 d). A liberdade aqui é entendida (não por Platão, como veremos mais adiante) como ausência de medida, recusa de normas. O ilimitado poder sobre todas as coisas, que, para Hobbes, constitui a liberdade em estado natural (De Cive, I, § 7), tem o mesmo significado. Filmer acreditava estar expressando o significado da doutrina de Hobbes quando dizia: “A liberdade consiste em cada um fazer o que lhe aprouver, em viver como quiser, sem estar vinculado a lei nenhuma” (Observations upon Mr. Hobbes’s Leviathan, 1652, p. 55). Mas talvez a melhor e mais coerente expressão dessa noção de liberdade seja o Único de Max Stiner: o indivíduo que não tem causa fora de si, que é sua própria causa e causa de tudo. Nessa forma extrema a tese da liberdade anárquica raramente é defendida: na maioria das vezes é pressuposta como termo de polêmica, reduzindo-se a ela (em boa ou má-fé) as demais concepções de liberdade política.
2) A segunda concepção fundamental identifica liberdade com necessidade. Esta concepção tem estreito parentesco com a primeira. O conceito de liberdade a que se refere é ainda o de causa sui; contudo, como tal, a liberdade é não atribuída à parte, mas ao todo: não ao indivíduo, mas à ordem cósmica ou divina, à Substância, ao Absoluto, ao Estado. A origem dessa concepção está nos estoicos, para os quais, como vimos, “a liberdade consiste na autodeterminação e portanto só o sábio é livre” (Dióg. liberdade, VII, 121). Mas por que o sábio é livre? Porque só ele vive em conformidade com a natureza, só ele se conforma à ordem do mundo, ao destino (Diógenes Laércio, VII, 88; Stobeo, Flor., VI, 19; Cícero, De fato, 17). A liberdade do sábio coincide, portanto, com a necessidade da ordem cósmica. Crisipo, porém, procura fugir a essa consequência distinguindo as causas perfeitas e principais das causas auxiliares e próximas; o destino age sobretudo através das primeiras, mas entre as últimas está o assentimento que o homem dá às coisas e, consequentemente, sua ação. É como acontece com o cilindro: basta dar um empurrãozinho para que ele role por um plano inclinado: graças à natureza do cilindro e do plano, ele continuará rolando se for empurrado, mas para que isso aconteça é necessário o empurrão. Da mesma forma, a ordem das. coisas é tal que, uma vez iniciadas, as ações continuam de determinado modo, mas, para que sejam iniciadas, é necessário o assentimento do homem e esse assentimento permanece em poder dele (Cícero, De fato, 18^19). Todavia para Crisipo também a liberdade é apenas adequação entre assentimento humano e ordem cósmica: as causas auxiliares pertencem à ordem necessária do mundo tanto quanto as causas principais, e o empurrão que faz o cilindro rolar pertence a essa ordem tanto quanto a forma do cilindro e o plano sobre o qual ele rola. Desse ponto de vista, negar que o homem como tal é livre e afirmar que ele é livre enquanto manifestação da autodeterminação cósmica ou divina são a mesma coisa. Tudo fica muito claro na formulação de Spinoza: “diz-se que é livre o que existe só pela necessidade de sua natureza e que é determinado a agir por si só enquanto é necessário ou coagido aquilo que é induzido a existir e a agir por uma outra coisa, segundo uma razão exata e determinada” (Et., I, def. 7). Nesse sentido, só Deus é livre, pois só Ele age com base nas leis de sua natureza e sem ser obrigado por ninguém (Ibid., I, 17, corol. II), ao passo que o homem, como qualquer outra coisa, é determinado pela necessidade da natureza divina e pode julgar-se livre somente enquanto ignora as causas de suas volições e de seus desejos (Ibid., I, ap.; II, 48). Contudo, poderá tornar-se livre se for guiado pela razão (Ibid., IV, 66, scol.), se agir e pensar como parte da Substância Infinita e reconhecer em si a necessidade universal dela (Ibid., V, VI, scol.). Em outros termos, o homem torna-se livre através do amor intelectual por Deus (que é exatamente o conhecimento da necessidade divina): amor que é idêntico ao amor com que Deus se ama (Ibid., V, 36, scol.). Nenhuma inovação foi introduzida nesse ponto de vista pela elaboração e ampliação feitas pela filosofia romântica. Schelling afirma explicitamente a coincidência entre liberdade e necessidade: “O Absoluto age por meio de cada inteligência, ou seja, sua ação é absoluta porquanto não é livre nem desprovida de liberdade, mas as duas coisas ao mesmo tempo: absolutamente livre e por isso também necessária” (System des transzendentalen Idealismus, IV, E). Em Investigações filosóficas sobre a essência da liberdade humana (1809), Schelling transfere para Deus, ou melhor, para a natureza ou fundamento de Deus, o ato com que o homem escolhe essa natureza ou fundamento, pelo qual todas suas inclinações ou ações serão determinadas. A tendência a atribuir a liberdade ao Absoluto e a identificá-la com a necessidade explicita-se assim como característica tipica da concepção romântica. Hegel contrapõe “o conceito abstrato de liberdade”, isto é, a liberdade como exigência ou possibilidade, à “liberdade concreta”, que é a “liberdade real” ou “a própria realidade” do espírito ou dos homens (Enc., § 482; Fil. do dir., § 33. Zusatz). Essa liberdade real, realidade mesma do homem, é o Estado, que, exatamente por isso, é considerado “Deus real” (Fil. do dir., § 258, Zusatz). O Estado é “a realidade da liberdade concreta” (Ibid., § 260). Isso significa que ele “é a realidade em que o indivíduo tem liberdade e a usufrui, mas só quando o indivíduo é ciência, fé e vontade do universal. Assim, o Estado é o centro dos outros aspectos concretos da vida: direito, arte, costumes, bem-estar. No Estado, a liberdade é realizada objetiva e positivamente”. Isto não significa que a vontade subjetiva do indivíduo se realize através da vontade universal, que seria, portanto, um meio para ela; significa que a vontade universal se realiza através dos cidadãos, que, nesse aspecto, são seus instrumentos. “O direito, a moral e o Estado, e somente eles, são positiva realidade e satisfação da liberdade O arbítrio do indivíduo não é liberdade. A liberdade que é limitada é o arbítrio referente ao momento particular das necessidades” (Philosophie der Geschichte, ed. Lasson, I, p. 90). Essa coincidência entre liberdade e necessidade, que leva a atribuir a liberdade apenas ao Absoluto ou à sua realização no mundo (o Estado), por um lado passou a caracterizar todas as doutrinas de cunho romântico e por outro foi utilizada, fora do âmbito de tais doutrinas, na defesa do absolutismo estatal e na recusa do liberalismo político. Foi aceita por Gentile e por Croce: o primeiro identificando a liberdade com a necessidade dialética do Absoluto (Teoria generale dello spirito, XII, § 20), o segundo identificando a liberdade com “a criatividade das forças que se denominam individuais e coincidem com a unidade do Universal” (Storiografia e idealità morale, p. 58). Mas também foi aceita por Martinetti, para quem a liberdade é espontaneidade da razão, e a espontaneidade da razão é a própria necessidade, de tal forma que, em qualquer caso, identificam-se liberdade e espontaneidade, espontaneidade e concatenação necessária (La liberta, 1928, p. 349). Com outra aparência, essa doutrina retorna em algumas manifestações da filosofia contemporânea, como p. ex. no realismo de Nicolai Hartmann e no existencialismo de Jaspers. Segundo Hartmann, a liberdade consiste no fato de que, em cada plano do ser, acrescenta-se ao determinismo dos planos inferiores o determinismo daquele plano. Os planos, em outros termos, são contingentes, um em relação ao outro, porquanto cada um tem uma forma específica de determinismo não redutível à forma dos planos inferiores; a liberdade seria então o super-determinismo de um plano do ser em relação aos outros. Hartmann diz: “A liberdade em sentido positivo não é um minus, mas um plus na determinação. O nexo causal não permite um minus porque sua lei afirma que uma série de efeitos, uma vez em movimento, não pode ser detida de modo algum. Mas admite um plus — se ele existir — porque sua lei não afirma que aos elementos de determinação causal de um processo não se possam acrescentar outros elementos de determinação” (Ethik, p. 649). No plano do espírito, esse plus de determinação é constituído pela teleologia própria do homem, que impõe aos processos causais fins extraídos da esfera dos valores. Mas é óbvio que, nesse sentido, a liberdade outra coisa não é senão o acréscimo de um determinismo “superior” aos determinismos “inferiores”: é portanto a autodeterminação dos planos, que se acrescenta à determinação externa. No mesmo sentido Jaspers afirma a unidade de liberdade e necessidade, expressa na forma “posso porque devo” (no sentido da necessidade de fato, Ich muss-. Phil., II, pp. 186, 195). Nesse caso a liberdade, autodeterminação, pertence à situação existencial total, cuja expressão é o eu. Continuamos no âmbito da concepção que identifica liberdade com autocausalidade de uma totalidade metafísica (política, social, etc), ou seja, com a necessidade com que essa totalidade se realiza. Essa doutrina por vezes foi defendida por filósofos ou escritores de tendências liberais, mas na realidade é a insígnia do antiliberalismo moderno. De fato, no plano metafísico, reconhece como sujeito de liberdade apenas o ser, a substância, o mundo; no plano político, apenas o Estado, a Igreja, a raça, o partido, etc; atribui à totalidade assim privilegiada um poder de autocausalidade ou autocriação que é um outro poder igualmente absoluto de coerção sobre os indivíduos, considerados manifestações ou partes dele.
3a Enquanto as duas primeiras concepções de liberdade possuem um núcleo conceitual comum, a terceira não recorre a esse núcleo porque entende a liberdade como medida de possibilidade, portanto escolha motivada ou condicionada. Nesse sentido, a liberdade não é autodeterminação absoluta e não é, portanto, um todo ou um nada, mas um problema aberto: determinar a medida, a condição ou a modalidade de escolha que pode garanti-la. Livre, nesse sentido, não é quem é causa sui ou quem se identifica com uma totalidade que é causa sui, mas quem possui, em determinado grau ou medida, determinadas possibilidades. Platão foi o primeiro a enunciar o conceito segundo o qual a liberdade consiste na “justa medida” (Leis, 693 e); ilustrou esse conceito como mito de Er. Segundo esse mito, as almas, antes de encarnar, são levadas a escolher o modelo de vida a que posteriormente ficarão presas. “Para a virtude, anuncia a parca Láquesis, não existem padrões: cada um terá mais ou menos, conforme a honre ou a negligencie. Cada um é autor de sua escolha; a divindade está fora de questão” (Rep., X, 617 e). Mas o importante é que essa escolha, cujo autor é cada indivíduo e cuja causalidade, portanto, não pode ser atribuída à divindade, é limitada, em um sentido, pelas possibilidades objetivas, pelos modelos de vida disponíveis, e, em outro, pela motivação, pois — como afirma Platão — “a maior parte das almas escolhe de acordo com os costumes da vida anterior” (Ibid., 620 a). A situação mítica aqui ilustrada é de liberdade finita, de escolha entre possibilidades determinadas e condicionadas por motivos determinantes. Semelhante liberdade é delimitada: 1) pelo grau das possibilidades objetivas, sempre em número mais ou menos restrito; 2) pela ordem dos motivos da escolha, que podem restringir ainda mais, até a unidade, a ordem das possibilidades objetivas. Portanto, esse conceito de liberdade é uma forma de determinismo, ainda que não de necessarismo: admite a determinação do homem por parte das condições a que sua atividade corresponde, sem admitir que a partir de tais condições a escolha seja infalivelmente previsível.
Esse conceito de liberdade foi completamente esquecido na Antiguidade e na Idade Média devido ao predomínio do conceito de liberdade como causa sui. Quando reapareceu, nos primórdios da Idade Moderna, assumiu, em oposição à noção de livre-arbítrio, a forma de negação da liberdade de querer-e de afirmação da liberdade de fazer. Nessa forma é expressa por Hobbes. Este, identificando a vontade com o apetite, afirma que não se pode não querer aquilo que se quer (não se pode não ter fome quando se tem fome, não ter sede quando se tem sede, etc), mas que é possível fazer ou não fazer aquilo que se quer (comer ou não comer quando se tem fome, etc). Existe, pois, uma liberdade de fazer, não uma liberdade de querer (De bom., II, § 2; De corp., 25, § 13).
Essa doutrina foi substancialmente aceita por Locke, que definia a liberdade como “o fato de se estar em condições de agir ou de não agir segundo se escolha ou se queira” (Ensaio, II, 21, 27). Mas em Locke essa doutrina se complica e confunde, pois por um lado ele distingue apetite de vontade, que julga constituída por um poder de escolha, preferência ou inibição (suspensão do desejo, ibid., II, 21, 48), e por outro admite que tal escolha, preferência ou inibição é necessariamente determinada pelo motivo (que inicialmente ele identifica com o desejo do bem e depois com o mal-estar próprio do desejo, ibid., II, 21, 31). Portanto, é difícil saber como, desse ponto de vista, se poderia falar em liberdade de fazer ou de não fazer, visto que a escolha ou a preferência dada a uma ou a outra dessas alternativas é necessariamente determinada. De qualquer forma, a intenção da doutrina de Locke é clara: tende, por um lado,
a garantir o determinismo dos motivos, negando o livre-arbítrio como autocausalidade da vontade, e por outro a garantir a liberdade do homem contra o determinismo rigoroso. Locke conseguiu expressar muito melhor esse conceito no terreno político ao negar, em oposição a Filmer, que a liberdade consistisse em cada um fazer o que bem entendesse; e afirmou. “A liberdade natural do homem consiste em estar livre de poderes superiores sobre a terra, em não estar submetido à vontade ou à autoridade legislativa de ninguém e em possuir como norma própria apenas a lei natural. A liberdade do homem em sociedade consiste em não estar sujeito a outro poder legislativo além do estabelecido por consenso no Estado, nem ao domínio de outra vontade ou à limitação de outra lei além da que esse poder legislativo tiver estabelecido de acordo com a confiança nele depositada” (Two Treatises of Government, II, 4, 22). No Estado natural a liberdade consiste na possibilidade de escolha limitada pela norma natural, que é uma norma de reciprocidade, segundo a qual deve-se atribuir aos outros as mesmas possibilidades atribuídas a si mesmo (Ibid., II, 2, 4). Em sociedade, a liberdade consiste na possibilidade de escolhas delimitadas por leis estabelecidas por um poder para isso designado pelo consenso dos cidadãos. Em outros termos, a liberdade política supõe duas condições: la existência de normas que circunscrevam as possibilidades de escolha dos cidadãos; 2- possibilidade de os próprios cidadãos fiscalizarem, em determinada medida, o estabelecimento dessas normas. Desse ponto de vista, o problema da liberdade política é um problema de medida: a medida na qual os cidadãos devem participar da fiscalização das leis e a medida na qual tais leis devem restringir as possibilidades de escolha dos cidadãos. Esse sempre foi o problema do liberalismo clássico, ou seja, de qualquer liberalismo autêntico, seja ele antigo ou moderno. Montesquieu repropôs a doutrina da liberdade política de Locke em L’esprit des lois (1748, XI, 3-4). Hume e o Iluminismo retomaram a doutrina da liberdade filosófica. O primeiro afirmava: “Por liberdade só podemos entender um poder de agir ou de não agir, segundo a determinação da vontade; isso significa que, se decidirmos ficar parados, poderemos ficar, e se decidirmos andar, também poderemos andar ” (Inq. Conc. Underst, VIII, 1); ao mesmo tempo, ressaltava o determinismo dos motivos, sem o qual as leis e sanções seriam inoperantes. O iluminismo, através de Voltaire, retomou essa mesma doutrina: liberdade de indiferença é “uma expressão sem sentido”, pois significaria que no homem há “um efeito sem causa”. Somos livres para fazer quando temos o poder de fazer (Dictionnaire philosophique, art. “Liberte”). Kant utilizou o conceito de liberdade finita para definir a liberdade jurídica ou política: ela é “a faculdade de não obedecer a outras leis externas a não ser as leis às quais eu possa dar meu assentimento” (Zum ewigen Frieden, II, art. 1, ne 1). A concepção de determinismo não necessarista consolidou-se na orientação empirista. Stuart Mill mostrou que o fatalismo brota de um conceito de necessidade que não se reduz ao de determinação. Ela significa apenas “uniformidade de ordem e capacidade de previsão”. Mas para os defensores da necessidade “é como se houvesse um vínculo mais forte entre as volições e suas causas: como se, ao dizerem que a vontade é governada pelo equilíbrio dos motivos, estivessem dizendo algo além da afirmação de que, conhecendo-se os motivos e nossa habitual suscetibilidade a eles, fosse possível predizer a maneira como iremos agir” (Logic, VI, 2, § 2). Dewey traduz essa doutrina para os termos do pragmatismo, ou seja, do empirismo orientado para o futuro: “Às vezes se afirma que, se é possível demonstrar que a deliberação determina a escolha e é determinada pelo caráter e pelas condições, é porque nào existe liberdade. É como dizer que uma flor não pode produzir fruto porque provém da raiz e do caule. A questão não diz respeito aos antecedentes da deliberação da escolha, mas às suas consequências. Qual é sua característica? Dar-nos o controle das possibilidades futuras que se abrem para nós. Esse controle é o núcleo da nossa liberdade. Sem ele, somos empurrados de trás, com ele caminhamos na luz” (Human Nature and Conduct, 1922, p. 311). A liberdade de que Heidegger fala como “transcendência” e “projeção” do homem no mundo também é uma liberdade finita, porque condicionada e limitada pelo mundo em que se projeta ( Vom Wesen des Grundes, 1949, III, trad. it., pp. 64 ss.).
Essa doutrina da liberdade consolidou-se e tornou-se mais clara e coerente quando, a partir da década de 40, a ciência desistiu do ideal de causalidade necessária e de previsão infalível. O predomínio do conceito de condição sobre o de causa, da explicação probabilista sobre a explicação necessarista, que se delineou na física atômica como efeito do princípio de indeterminaçâo (v. causalidade; condição), tornou obviamente anacrônica a conservação do esquema necessarista para a explicação dos acontecimentos humanos. Ao mesmo tempo, deixou de ter sentido a oposição entre ciência e consciência, entre a exigência de causalidade própria da primeira e o testemunho de liberdade dada pela segunda. Por um lado, vimos que a consciência não dá demonstrações de liberdade absoluta e que tampouco pode mostrar ser válida qualquer demonstração nesse sentido; por outro lado, vimos que a ciência não exige a causalidade necessária que autorizaria a previsão infalível dos eventos, mas um determinismo condicionante que autorize a previsão provável dos eventos. A conclusão é que o conceito de liberdade como autocausação (que ainda aparece em Bergson e Sartre) é tão pouco sustentável quanto o conceito de determinismo como necessidade. Correspondentemente, no plano político o conceito de liberdade como poder de fazer o que apraz e o conceito de liberdade como poder absoluto da totalidade a que o homem pertence (Estado, Igreja, raça, partido, etc.) são igualmente mistificadores. Hoje, assim como nos tempos em que a noção no mundo moderno foi formulada pela primeira vez, a liberdade é uma questão de medida, de condições e de limites; e isso em qualquer campo, desde metafísico e psicológico ao até econômico e político. Hoje se destaca o fato de que a liberdade humana é “situada, enquadrada no real, uma liberdade sob condição, uma liberdade relativa” (Gurvitch, Détermismes sociaux et liberte humaine, 1955, p. 81). Expressa-se por vezes esse conceito dizendo que a liberdade não é uma escolha, mas uma “possibilidade de escolha”, ou seja, uma escolha que, se feita, poderá ser sempre repetida em determinada situação (Abbagnano, Possibilita e liberta, 1956, passim). Dessa forma, pode-se dizer que a liberdade está presente em todas as atividades humanas organizadas e eficazes, notadamente nos procedimentos científicos cujas técnicas de verificação consistem exatamente em possibilidades de escolha no sentido acima. Válido é o procedimento que pode ser eficazmente empregado por qualquer um, nas circunstâncias apropriadas: é uma “possibilidade de escolha” sempre ao alcance de qualquer um que se encontre nas condições oportunas. Analogamente, as liberdade políticas são possibilidades de escolha que asseguram aos cidadãos a possibilidade de escolher sempre. Um tipo de governo não é livre simplesmente por ter sido escolhido pelos cidadãos, mas se, em certos limites, permitir que os cidadãos exerçam contínua possibilidade de escolha, no sentido da possibilidade de mantê-lo, modificá-lo ou eliminá-lo. As chamadas “instituições estratégicas da liberdade”, como a liberdade de pensamento, de consciência, de imprensa, de reunião, etc, têm o objetivo de garantir aos cidadãos a possibilidade de escolha no domínio científico, religioso, político, social, etc. Portanto, os problemas da liberdade no mundo moderno não podem ser resolvidos por fórmulas simples e totalitárias (como seriam as sugeridas pelos conceitos anárquicos ou necessaristas), mas pelo estudo dos limites e das condições que, num campo e numa situação determinada, podem tornar efetiva e eficaz a possibilidade de escolha do homem. (Abbagnano)
A noção que se define, negativamente, como a ausência de opressão; positivamente, como o estado daquele que faz o que quer. O problema filosófico é o de uma definição e de uma prova da liberdade, justificando o “sentimento vivo e interno” (Descartes) que temos de ser livres e que se encontra em todo homem. Para definir a liberdade, é suficiente dar-se dela uma descrição adequada: 1.° No nível mais baixo e propriamente biológico, a liberdade identifica-se com a saúde do organismo, que Leriche definiu como “a vida no silêncio dos órgãos”. O homem doente sente-se submetido a seu corpo: não é livre de fazer o que quer; 2.° Num estágio mais elevado, a liberdade identifica-se com a espontaneidade das tendências. O homem é livre quando pode realizar seus desejos (epicurismo). Existem, entretanto, desejos contra os quais lutamos por causa de suas consequências prejudiciais ao organismo ou porque a razão a eles se opõe. A liberdade não consistiria, então, em seguir-se as próprias tendências (“não temos consciência de ser livres, dizia Platão, quando sucumbimos às paixões”), mas em “escolher-se” entre essas tendências. 3.° No nível da consciência, a liberdade define-se pela possibilidade de escolher. Para que haja escolha são necessários vários motivos, várias possibilidades de ação. A escolha pode ser impossível quando as opções têm o mesmo peso: o asno de Buridan, colocado entre dois idênticos sacos de aveia, morre de fome no meio, pois não tem mais motivos de ir para a direita do que para a esquerda. Uma decisão, nesse caso, teria destacado o que se chama “liberdade de indiferença”; mas uma tal liberdade quase não é a expressão de uma personalidade; 4.° No sentido mais pleno, a liberdade define-se como uma “realização” voluntária, justificada pelo maior número de motivos; nossa ação é, então, não somente a expressão de uma escolha pessoal mas uma escolha capaz de justificar-se racionalmente aos olhos de todos os homens. Depois de Platão e Spinoza (“ação livre é aquela que se determina em favor do desejo racional”), Kant deu toda amplitude ao “racionalismo” da liberdade: a ação é livre quando a consciência determina “contra” os desejos sensíveis, em função de um princípio racional (por ex., dar esmola “por piedade” é ceder à tendência; mas dar esmola “por princípio” é agir livremente, segundo um princípio racional); 5.° Percebe-se que, no fundo, a liberdade não consiste no que se faz, mas na maneira pela qual se faz. A liberdade é uma atitude, a do homem que se reconhece em sua vida, que aceita a história do mundo e dos acontecimentos. Por isso, a liberdade consiste, frequentemente, muito mais em “mudar seus desejos que a ordem do mundo”, em adaptar-se à evolução e à ordem das coisas. É a uma tal concepção (que era a dos estoicos) que voltaram os filósofos modernos (Jaspers, Sartre): o homem torna-se livre quando substitui uma “situação sofrida” por uma “atitude ativa”, quando toma partido em relação aos acontecimentos de seu tempo, quando se define em relação ao regime e em relação aos outros homens: em resumo, a liberdade se prova ao realizar-se, quando o homem realiza sua personalidade através dos acontecimentos do mundo, ao invés de sofrê-los do lado de fora, como um destino cego. O problema social da liberdade está inicialmente, e de maneira muito geral, ligado ao bem-estar do homem. Uma nação não pode ser livre quando nela reina a miséria: exteriormente, depende das nações mais ricas; mas, sobretudo interiormente, as populações miseráveis não podem sentir-se livres. A liberdade requer, no plano social, que todos os homens de uma sociedade possam achar trabalho e, no plano humano, a vontade dos cidadãos de trabalhar eficazmente e construir uma economia. Mais particularmente, o problema social da liberdade é de conciliar a liberdade individual e a lei social: a) O ponto de vista segundo o qual as liberdades individuais devem poder exprimir-se sem limites é o que Platão chamava “democracia direta” ou “anarquia”. Quando existem apenas indivíduos, uma sociedade não é mais possível. Do ponto de vista econômico, a subordinação dos interesses sociais aos interesses particulares caracteriza o liberalismo econômico do fim do século XIX nos Estados Unidos da América; b) O ponto de vista em que a lei social constitui um ideal com o qual os indivíduos devem identificar-se caracteriza o estatismo, ou dirigismo das sociedades fundadas sobre um partido único (democracias populares, U. R. S. S., China), admitindo em política somente uma ideologia, suprimindo, em economia, propriedades e empresas privadas; c) Na verdade, é necessário um mínimo de lei para que haja sociedade, um mínimo de iniciativa individual para que haja liberdade. Os historiadores e os filósofos modernos concordam em reconhecer uma evolução necessária dos países comunistas — contemporânea da elevação de seu nível de vida — no sentido da propriedade e das iniciativas individuais, e dos países livres no sentido de um certo estatismo político (primado do governo sobre o parlamento), garantindo a estabilidade governamental, e de um certo dirigismo econômico (que se manifesta principalmente pela outorga ou não outorga do crédito), o único adaptado às dimensões das indústrias modernas. O que é a liberdade? A liberdade é um poder de agir e não de pensar: “Tenho-vos dito que sua liberdade [do homem] consiste no poder de agir, e não no poder quimérico de querer querer” (Voltaire, O filósofo ignorante). “A liberdade consiste em determinar-se a si própria” (Leibniz, Teodiceia, § 319); Kant dizia: em ser “autônomo”.
Onde está a liberdade? Está na pujança de nossa razão, de nossa vontade sobre a vida: “Somente o ser racional considerado como tal é absolutamente autônomo, fundamento absoluto de si mesmo.” (Fichte, Sämtliche Werke, t. IV, p. 36). “Ser livre é realizar o ideal no real” (Schelling, S. W., t. VI, p. 31). “Quero ser livre.. . significa: quero fazer-me eu próprio o que serei” (Fichte, S. W., t. II, p. 193).
O valor da liberdade. Só a vida livre pode ter um valor moral. “As ações são por natureza algo de transitório, de passageiro. Quando não jorram de uma causa cuja sede está no caráter ou no temperamento da pessoa que as realiza, então não aderem a essa pessoa e não podem, quando boas, conferir-lhe mérito nem, quando más, lhe trazer vergonha” (Hume, Tratado, III) “Ser livre é um bem; tornar-se livre é o céu!” (Fichte). (Larousse)
Em geral, é o não estar preso de maneira nenhuma, o estar isento de travas, de qualquer espécie de determinação proveniente de fora, contanto que dita isenção esteja unida a urna certa faculdade de auto-determinar-se espontaneamente. Consoante a espécie de travas, distinguem-se várias classes de liberdade. A liberdade física ou de ação compete aos seres vivos capazes de apetites conscientes (homens e animais) e também, em menor escala, aos vegetais, na medida em que nenhuns obstáculos exteriores materiais se opõem à operação deles; a liberdade moral (1). em sentido lato, consiste na faculdade de podermos resolver-nos a alguma coisa, sem que no-lo impeçam causas exteriores psiquicamente influentes (por via de representações) (p. ex., por ameaça); a liberdade moral (2), em acepção estrita, é a faculdade de podermos resolver-nos a alguma coisa (p. ex., a dar um passeio), sem que exista obrigação contrária. A liberdade psicológica, que não exclui a ligação física nem a obrigação moral, sendo até uma pressuposição desta última, consiste na faculdade de podermos resolver-nos a alguma coisa sem ligações psíquicas antecedentes ao ato da decisão, que necessitem unicamente a volição num sentido determinado; por outros termos: é a faculdade de “querer como nos apetece” (liberdade da vontade). Sem uma certa preponderância do interior sobre o exterior, preponderância inexistente no ser inorgânico, não se pode falar de liberdade.
Segundo Kant, a liberdade inteligível consiste em que a vontade, independentemente do influxo das tendências sensíveis, é unicamente determinada pela razão pura. A vontade, como tal, segue o imperativo categórico, sendo necessariamente, por isso mesmo, vontade moral. Tal vontade pode tornar-se eficaz no mundo fenomênico (o que, decerto, não é mais que um postulado prático,) porque sua causalidade inteligível se atravessa, por assim dizer, na série causal necessária dos fenômenos. — Esquece Kant que a sã razão, embora voltada sempre na direção do moral, não ordena que este seja realizado necessariamente de uma só maneira; e esquece também que a apreciação objetiva de interesses sensíveis não suprime a escolha proveniente da faculdade racional. A coexistência da causalidade inteligível e da empírica só é possível, quando esta última não é absolutamente necessária.
Funda-se na natureza do homem, enquanto ser finito, psíquico-corpóreo, racional e social, o fato de sua liberdade não poder ser ilimitada, conforme o pretendem o liberalismo e, mais ainda, o anarquismo e o antinomismo (recusa de qualquer vinculação legal). Já a razão exige que o homem se curve, por livre iniciativa e não por mera coação externa, perante a lei moral; que reconheça como seu Senhor o Deus pessoal, manancial primário de toda ordem intelectual, moral e física; e que, deixando a salvo a pressuposição de sua dignidade pessoal (pessoa, sociedade), se enquadre na ordem social dada pela natureza. Pelo contrário, abusa do termo “liberdade” a doutrina defendida pelo marxismo e pelo nacional-socialismo, doutrina já preparada por Hegel, segundo a qual é livre o que acontece com conhecimento de sua necessidade. — Segundo o objeto, relativamente ao qual somos livres, distinguimos, entre outras; a liberdade de consciência, ou seja, o direito de seguir, sem entraves, a própria consciência pessoal (o que não exclui o dever de formá-la em conformidade com normas objetivas, nem os direitos fundados da comunidade); a liberdade de religião (como parte da liberdade de consciência); a liberdade de profissão (que exclui a coação física ou moral na escolha da mesma); a liberdade de investigação e de ensino (possibilidade de seguir na pesquisa e no ensino unicamente a verdade conhecida e a certeza); a liberdade de pública exteriorização de opiniões (liberdade de expressão oral, de imprensa). É óbvio que as últimas espécies de liberdade (incluindo a de ensino) não podem ir tão longe que constituam uma ameaça real para a comunidade e para os valores que estão confiados à sua guarda. — Brugger.
O conceito de liberdade foi entendido e usado de maneiras muito diversas e em contextos muito diferentes, desde os gregos até aos tempos atuais. Limitar-nos-emos a pôr em relevo alguns dos conceitos capitais de liberdade que se manifestaram no decurso dessa história. Os gregos usaram o termo nos seguintes sentidos:
1) Uma liberdade que pode chamar-se natural e que, quando é admitida, costuma entender-se como a possibilidade de se subtrair, pelo menos parcialmente, a uma ordem cósmica predeterminada e invariável que aparece como inelutável. Pode entender-se esta ordem cósmica de duas maneiras: como modo de operar do Destino, ou como a ordem da Natureza enquanto nesta todos os acontecimentos estão estreitamente imbrincado.. No primeiro caso, aquilo a que pode chamar-se liberdade perante o destino não é necessariamente, pelo menos para muitos gregos, uma prova de grandeza ou dignidade humanas. Pelo contrário, só podem subtrair-se ao Destino aqueles a quem o Destino não selecionou e, portanto, “os que realmente não interessam”. Nesse caso, ser livre significa, simplesmente, não contar ou contar pouco. Os homens que foram escolhidos pelo destino para o realizarem não são livres no sentido de poderem fazer “o que quiserem”. São, contudo, livres num sentido superior. Aqui, encontramos já a ideia de uma das concepções da liberdade como realização de uma necessidade superior. No segundo caso, isto é, quando a ordem cósmica é “ordem natural”, o problema da liberdade põe-se de outro modo: trata-se de saber então até que ponto e em que medida o indivíduo pode subtrair-se à estreita imbricação interna dos acontecimentos naturais. Segundo uns, tudo o que pertence à alma é mais fino e mais estável, embora também seja natural, do que aquilo que pertence aos corpos. Por conseguinte, pode haver nas almas movimentos voluntários e livres por causa da maior determinação dos elementos que as compõem. Segundo outros, tudo o que pertence já ordem da liberdade pertence à ordem da razão. O homem só é livre enquanto ser racional e disposto a atuar como ser racional. Portanto é possível que tudo no cosmos esteja determinado, incluindo as vidas dos homens. Mas na medida em que estas vidas são racionais e têm consciência de que tudo está determinado, gozando liberdade. Nesta concepção, a liberdade é própria só do sábio; todos os homens são, por definição, racionais, mas só o sábio o é eminentemente.
2) Uma liberdade que se pode chamar social ou política.
Primeiramente concebe-se esta liberdade como autonomia ou independência que, numa determinada comunidade humana, consiste na possibilidade de reger os próprios destinos sem interferência de outras comunidades. Nos indivíduos dentro da comunidade, essa autonomia consiste primeiramente não em fugir à lei, mas em agir de acordo com as próprias leis.
3) Uma liberdade que pode chamar-se pessoal e que também se concebe como autonomia ou independência, mas como independência das pressões ou coações procedentes da comunidade enquanto sociedade ou enquanto Estado. Embora se reconheça que qualquer indivíduo é membro de uma comunidade e lhe deve obrigações, normalmente permite-se que ele abandone por algum tempo o seu “negócio” para se consagrar ao “ócio”, que não é forçosamente negação de qualquer atividade mas estudo que lhe permite cultivar melhor a sua própria personalidade. Quando o indivíduo toma esse ócio como um direito e o impõe por si mesmo, então a sua liberdade consiste ou irá consistir numa separação da comunidade talvez fundada na ideia de que, no indivíduo há uma realidade que não é, estritamente falando, social, mas plenamente pessoal.
Estas três concepções da liberdade surgiram em diversos períodos da filosofia grega. Em especial, a última das mencionadas foi adotada por diferentes escolas socráticas, mas principalmente pelos estoicos. “o exterior” – a sociedade, a natureza, as paixões – é considerado de certo modo como princípio de opressão. A liberdade consiste em dispor de si mesmo”. Mas isto não é possível a não ser que uma pessoa se tenha livrado de “o exterior”, o qual só se pode levar a cabo quando se reduzem as necessidades a um mínimo. Deste modo, o homem livre acaba por ser aquele que se atém apenas, como diziam os estoicos, “às coisas que estão em nós”, ou, como afirmava Sêneca, àquilo que “está nas nossas mãos”. Por isso também Epicteto e Marco Aurélio afirmaram que ninguém pode arrebatar-nos a nossa livre escolha. A liberdade é aqui liberdade para ser ele próprio.
Apesar de o ideal de autonomia ser comum a Platão e a Aristóteles, convém mostrar também a originalidade deste último. Aristóteles procura coordenar de certa maneira a ordem natural e a ordem moral mediante a noção de finalidade. Assim como os processos têm um fim para
o qual tendem naturalmente, também o homem tende naturalmente para um fim que é a finalidade. Ora, o homem não tende para esse fim do mesmo modo que os processos naturais. É próprio do homem pode exercer ações voluntárias. Segundo Aristóteles, as ações involuntárias são as produzidas por coação ou por ignorância e as voluntárias as que carecem destas notas. Para que haja uma ação moral, é mister que juntamente com a ação voluntária – liberdade da vontade – haja uma escolha – liberdade de escolha ou livre arbítrio. Estas duas formas de liberdade estão estreitamente ligadas, pois não se poderia escolher se a vontade não fosse livre, e a vontade não seria livre se não pudesse escolher, mas pode distinguir-se entre elas. De qualquer modo, a noção de liberdade de escolha apresenta alguns paradoxos que o próprio Aristóteles reconheceu. Por exemplo, se um tirano nos força a cometer – um ato mau (por exemplo, assassinar o nosso vizinho) ameaçando-nos com represálias (por exemplo com a morte de um filho nosso ) no caso de não obedecermos, somos então obrigados a fazer algo involuntariamente (porque não queríamos fazê-lo) e, ao mesmo tempo, voluntariamente (porque escolhemos, apesar de tudo, fazê- lo). Mas, não obstante estes paradoxos, Aristóteles achou necessário manter as duas formas de liberdade. Como a maioria dos gregos, considerou que um homem que conhece o bem não pode deixar de atuar de acordo com ele. A única coisa que pode acontecer é que não nos deixem atuar, que, por exemplo, alguém que não conhece o bem (como o tirano atrás mencionado, nos force a atuar segundo o mal. Mas na medida do razoável, a atuação livre em favor do bem predomina sempre, porque não se supõe que o homem esteja em nenhum sentido radicalmente corrompido. Os autores cristãos em geral consideraram que a liberdade como simples ausência de coação é insuficiente e que também não é suficiente, em geral, a liberdade de escolha ou livre arbítrio. Com efeito, pode usar-se bem ou mal o livre arbítrio. Isso já tinha sido revelado em várias ocasiões pelos filósofos antigos, mas ninguém sublinhou, como S. Paulo, que “faço não o bem que quero, mas o mal que não quero” (Romanos, 4, 15). A partir do momento em que se proclamou que a natureza do homem tinha sido completamente corrompida pelo pecado original, o que surpreendeu foi não que o livre arbítrio pudesse ser usado para o bem ou para o mal, mas que pudesse ser usado para o bem. daí a insistência na graça e no problema da supressão ou não do ser livre do homem mediante essa graça. A maior parte das questões acerca da liberdade humana, em sentido cristão foram debatidas e explicadas por Santo Agostinho. como vimos, Santo Agostinho di
Sendo o termo liberdade empregado em sentido extremamente diverso, importa, para circunscrever nosso problema, bem escolher aquele, entre tantos, que deve aqui nos reter.
Numa primeira aproximação, o ato livre manifesta-se como um ato que não é constrangido: sou livre para fazer isso porque nada me obriga. Uma tal pressão pode-se exercer seja no domínio da ação exterior, seja no domínio do ato interno do próprio querer.
À ausência de constrangimento exterior corresponde uma liberdade de ação que recebe diversos nomes segundo o gênero de atividade à qual se refere: liberdade física (poder de se mover corporalmente); liberdade civil (poder de agir como se quer no quadro de uma sociedade) ; liberdade política (poder de participar, conforme modalidades constitucionais previstas, do governo do estado); liberdade de consciência (poder de exprimir suas convicções em público).
À ausência de constrangimento interior necessitante, corresponde a liberdade psicológica propriamente dita ou a liberdade de querer, isto é, a possibilidade para a vontade de se determinar a agir ou a não agir, a querer isto ou a querer aquilo.
Embora haja uma relação entre as duas grandes formas de liberdade, pois a primeira só tem significado na suposição da segunda, não há contudo solidariedade necessária. Em particular, posso estar privado de tais liberdades exteriores sem cessar de ser livre no meu querer. No que se segue, é sobre este segundo tipo de liberdade que trataremos, ou seja, sobre a liberdade psicológica.
Uma outra delimitação se impõe. O ato livre, dir-se-á igualmente, caracteriza-se pelo fato de ser um ato espontâneo, isto é, que tem seu princípio no próprio agente e não no exterior. O ato livre vem de mim. Nada de mais exato, mas é preciso ajuntar que não há coextensão entre os domínios da espontaneidade e da liberdade. Para o compreender, consideremos como, em seus níveis sucessivos, a atividade dos seres pode ser chamada espontânea.
– Há um domínio, de início, onde toda espontaneidade encontra-se afastada, o da ação chamada violenta, isto é, daquela que, vindo do exterior, contraria as inclinações do ser sobre o qual se dirige: assim, na cosmologia antiga, levantar uma pedra era um ato “violento”, pois contraria o peso que é natural da pedra; de modo algum uma tal atividade procede do interior do ser que é movido.
– Considerando agora os movimentos que procedem da natureza mesma de um ser, será conveniente colocar à parte os movimentos dos seres inanimados. Tais seres movem-se a si mesmos, no sentido de que a forma, ou natureza, que dirigem sua atividade, lhes são bem interiores, mas estes princípios eles os recebem tais quais, e de um outro; aparecem assim, na ordem da ação, como puros executantes.
– Mais alto na hierarquia dos seres que se movem a si mesmos encontramos os viventes e, entre eles, especialmente os animais. Os viventes movem-se a si mesmos pelo fato de que, sendo organizados, são ao mesmo tempo ativos e passivos, uma parte agindo sobre a outra. No animal, esta interioridade do princípio da ação manifesta-se pelo fato de as representações que estão na origem do movimento, ainda que sejam determinadas do exterior, dependem contudo em parte das apreciações instintivas do sujeito.
– Enfim, no cume, encontra-se o ser dotado de razão, que é senhor do juízo que está na origem de seus atos e por este fato pode agir, fazer isto ou fazer aquilo. A espontaneidade aqui atinge seu grau mais elevado, o do ato propriamente livre.
A espontaneidade pertence, portanto, ao domínio da liberdade, mas, como a ausência exterior de constrangimento, não basta para a caracterizar.
Não se poderá definir o ato livre dizendo que é o ato mesmo da vontade? Isto suporia que todo ato voluntário fosse livre. É bem assim? Tomás de Aquino (Ia Pa, q. 82, a. 1) pergunta se a vontade não deseja certas coisas de modo necessário e sua resposta é afirmativa.
Para o compreender, distingamos com ele diversos tipos de necessidade:
– a necessidade natural ou absoluta, que é somente a expressão da própria natureza de uma coisa; por sua natureza, o triângulo deve ter três ângulos iguais a dois retos;
– a necessidade do fim que impõe tal meio, quando este meio é o único para atingir tal fim; assim o alimento é necessário para a vida;
– a necessidade, enfim, imposta por um agente exterior, ou necessidade de coação.
Este último tipo de necessidade, já o dissemos, repugna de modo absoluto à vontade, pois, por definição, o “violento” não é livre. Mas os dois outros tipos, pelo contrário, têm seu lugar na atividade de nossa faculdade superior de apetência: 1. , a necessidade natural, antes de tudo; do mesmo modo que a inteligência adere necessariamente aos primeiros princípios, assim também a vontade se relaciona de modo necessário com o bem ou com o fim último; é-me impossível não querer o bem, como tal, ou minha felicidade; 2. , a necessidade do fim em segundo lugar; esta necessidade tem toda a sua dimensão somente face aos meios sem os quais é impossível atingir seu fim último, isto é, ser, viver ou desejar ver a Deus – suposto para esta última coisa adquirida a certeza de que a felicidade consiste em uma tal visão.
Em face destes bens que assim se impõem à nossa vontade, há outros que não a solicitam de maneira necessária, pois, sem eles, parece que se possa chegar aos fins que se perseguem: estes bens contingentes face às metas a atingir, e que podem ser ou não ser queridos, constituem o domínio próprio da liberdade psicológica. (Gardeil)
Para a mente hindu, a liberdade absoluta (samadhi, Nirvana, etc.) pode ser expressa, de uma maneira reconhecidamente bastante imperfeita, apenas através de uma série de coincidências de contrários. Não é de se admirar, pois, que, entre os métodos propostos para a conquista desse modo de ser paradoxal, o ascetismo mais severo coexista com maithuna e o consumo do kundagolaka. (Eliade)
O conceito de liberdade foi entendido e usado de maneiras muito diversas e em contextos muito diferentes, desde os gregos até aos tempos atuais. Limitar-nos-emos a pôr em relevo alguns dos conceitos capitais de liberdade que se manifestaram no decurso dessa história. Os gregos usaram o termo nos seguintes sentidos: 1) Uma liberdade que pode chamar-se natural e que, quando é admitida, costuma entender-se como a possibilidade de se subtrair, pelo menos parcialmente, a uma ordem cósmica predeterminada e invariável que aparece como inelutável. Pode entender-se esta ordem cósmica de duas maneiras: como modo de operar do Destino, ou como a ordem da Natureza enquanto nesta todos os acontecimentos estão estreitamente imbrincado.. No primeiro caso, aquilo a que pode chamar-se liberdade perante o destino não é necessariamente, pelo menos para muitos gregos, uma prova de grandeza ou dignidade humanas. Pelo contrário, só podem subtrair-se ao Destino aqueles a quem o Destino não seleccionou e, portanto, “os que realmente não interessam”. Nesse caso, ser livre significa, simplesmente, não contar ou contar pouco. Os homens que foram escolhidos pelo destino para o realizarem não são livres no sentido de poderem fazer “o que quiserem”. São, contudo, livres num sentido superior. Aqui, encontramos já a ideia de uma das concepções da liberdade como realização de uma necessidade superior. No segundo caso, isto é, quando a ordem cósmica é “ordem natural”, o problema da liberdade põe-se de outro modo: trata-se de saber então até que ponto e em que medida o indivíduo pode subtrair-se à estreita imbrincação interna dos acontecimentos naturais. Segundo uns, tudo o que pertence à alma é mais fino e mais estável, embora também seja natural, do que aquilo que pertence aos corpos. Por conseguinte, pode haver nas almas movimentos voluntários e livres por causa da maior determinação dos elementos que as compõem. Segundo outros, tudo o que pertence já ordem da liberdade pertence à ordem da razão. O homem só é livre enquanto ser racional e disposto a atuar como ser racional. Portanto é possível que tudo no cosmos esteja determinado, incluindo as vidas dos homens. Mas na medida em que estas vidas são racionais e têm consciência de que tudo está determinado, gozamdo liberdade. Nesta concepção, a liberdade é própria só do sábio; todos os homens são, por definição, racionais, mas só o sábio o é eminentemente. 2) Uma liberdade que se pode chamar social ou política. Primeiramente concebe-se esta liberdade como autonomia ou independência que, numa determinada comunidade humana, consiste na possibilidade de reger os próprios destinos sem interferência de outras comunidades. Nos indivíduos dentro da comunidade, essa autonomia consiste primeiramente não em fugir à lei, mas em agir de acordo com as próprias leis. 3) Uma liberdade que pode chamar-se pessoal e que também se concebe como autonomia ou independência, mas como independência das pressões ou coações procedentes da comunidade enquanto sociedade ou enquanto Estado. Embora se reconheça que qualquer indivíduo é membro de uma comunidade e lhe deve obrigações, normalmente permite-se que ele abandone por algum tempo o seu “neg-ócio” para se consagrar ao “ócio”, que não é forçosamente negação de qualquer atividade mas estudo que lhe permite cultivar melhor a sua própria personalidade. Quando o indivíduo toma esse ócio como um direito e o impõe por si mesmo, então a sua liberdade consiste ou irá consistir numa separação da comunidade talvez fundada na ideia de que, no indivíduo há uma realidade que não é, estritamente falando, social, mas plenamente pessoal. Estas três concepções da liberdade surgiram em diversos períodos da filosofia grega. Em especial, a última das mencionadas foi adotada por diferentes escolas socráticas, mas principalmente pelos estoicos. “o exterior” — a sociedade, a natureza, as paixões — é considerado de certo modo como princípio de opressão. A liberdade consiste em dispor de si mesmo”. Mas isto não é possível a não ser que uma pessoa se tenha livrado de “o exterior”, o qual só se pode levar a cabo quando se reduzem as necessidades a um mínimo. Deste modo, o homem livre acaba por ser aquele que se atém apenas, como diziam os estoicos, “às coisas que estão em nós”, ou, como afirmava Séneca, àquilo que “está nas nossas mãos”. Por isso também Epicteto e Marco Aurélio afirmaram que ninguém pode arrebatar-nos a nossa livre escolha. A liberdade é aqui liberdade para ser ele próprio. Apesar de o ideal de autonomia ser comum a Platão e a aristóteles, convém mostrar também a originalidade deste último. Aristóteles procura coordenar de certa maneira a ordem natural e a ordem moral mediante a noção de finalidade. Assim como os processos têm um fim para o qual tendem naturalmente, também o homem tende naturalmente para um fim que é a finalidade. Ora, o homem não tende para esse fim do mesmo modo que os processos naturais. É próprio do homem pode exercer ações voluntárias. Segundo Aristóteles, as ações involuntárias são as produzidas por coação ou por ignorância e as voluntárias as que carecem destas notas. Para que haja uma ação moral, é mister que juntamente com a ação voluntária — liberdade da vontade — haja uma escolha — liberdade de escolha ou livre arbítrio. Estas duas formas de liberdade estão estreitamente ligadas, pois não se poderia escolher se a vontade não fosse livre, e a vontade não seria livre se não pudesse escolher, mas pode distinguir-se entre elas. De qualquer modo, a noção de liberdade de escolha apresenta alguns paradoxos que o próprio Aristóteles reconheceu. Por exemplo, se um tirano nos força a cometer — um ato mau (por exemplo, assassinar o nosso vizinho) ameaçando-nos com represálias (por exemplo com a morte de um filho nosso ) no caso de não obedecermos, somos então obrigados a fazer algo involuntariamente (porque não queríamos fazê-lo) e, ao mesmo tempo, voluntariamente (porque escolhemos, apesar de tudo, fazê- lo). Mas, não obstante estes paradoxos, Aristóteles achou necessário manter as duas formas de liberdade. Como a maioria dos gregos, considerou que um homem que conhece o bem não pode deixar de atuar de acordo com ele. A única coisa que pode acontecer é que não nos deixem atuar, que, por exemplo, alguém que não conhece o bem (como o tirano atrás mencionado, nos force a atuar segundo o mal. Mas na medida do razoável, a atuação livre em favor do bem predomina sempre, porque não se supõe que o homem esteja em nenhum sentido radicalmente corrompido. Os autores cristãos em geral consideraram que a liberdade como simples ausência de coação é insuficiente e que também não é suficiente, em geral, a liberdade de escolha ou livre arbítrio. Com efeito, pode usar-se bem ou mal o livre arbítrio. Isso já tinha sido revelado em várias ocasiões pelos filósofos antigos, mas ninguém sublinhou, como S. Paulo, que “faço não o bem que quero, mas o mal que não quero” (ROMANOS, 4, 15). A partir do momento em que se proclamou que a natureza do homem tinha sido completamente corrompida pelo pecado original, o que surpreendeu foi não que o livre arbítrio pudesse ser usado para o bem ou para o mal, mas que pudesse ser usado para o bem. daí a insistência na graça e no problema da supressão ou não do ser livre do homem mediante essa graça. A maior parte das questões acerca da liberdade humana, em sentido cristão foram debatidas e explicadas por Santo Agostinho. como vimos, Santo Agostinho distingue entre livre arbítrio como possibilidade de escolha e liberdade como realização do bem com vista à beatitude.. O livre arbítrio anda intimamente ligado ao exercício da vontade, a qual, sem o auxílio de Deus, se inclina para o pecado. Por isso o problema aqui não é tanto o daquilo que o homem poderia fazer, mas antes o de como pode o homem servir-se do seu livre arbítrio para ser realmente livre. Não basta saber o que é o bem: é mister poder inclinar-se efetivamente para ele. Juntamente com esta questão e em estreita relação com ela, está o problema de como pode reconciliar-se a liberdade de escolha do homem com a presciência divina. Para Santo Agostinho, são conciliáveis: Uma experiência pessoal indiscutível que o homem possui uma vontade que o move para isto ou para aquilo. Por outro lado, Deus sabe o que o homem fará voluntariamente isto ou aquilo, o que não exclui que o homem atue voluntariamente. Para Santo Agostinho, isto não é uma explicação do mistério da liberdade mas sim uma explicação válida de que a presciência de Deus não equivale a uma determinação dos atos voluntários a tal ponto que os converta em involuntários: Os escolásticos trataram abundantemente das questões relativas ao livre arbítrio, à liberdade, à vontade, à graça, etc. Para S. Tomás, o homem goza do livre arbítrio ou liberdade de escolha; tem também naturalmente vontade, a qual é livre de coação, pois sem isso não mereceria esse nome. Mas o estar livre de coação é uma condição e não é toda a vontade. É mister, com efeito, que algo mova a vontade: é o entendimento que apreende o bem como objeto da vontade. Desse modo, parece que se elimina a vontade, mas o que acontece é que esta não se reduz ao livre arbítrio. A liberdade propriamente dita é também aquilo a que se chamou depois uma espontaneidade que consiste em seguir o movimento natural próprio de um ser. Assim, não há liberdade sem escolha, mas a liberdade não consiste unicamente em escolher e menos ainda em escolher-se completa e absolutamente a si mesmo: consiste em escolher algo transcendente. Pode haver erro nesta escolha para a qual o homem usa do livre arbítrio. Se o homem escolhe por si mesmo e sem nenhuma ajuda de Deus, escolherá certamente o mal. Deste modo se afirma que há completa liberdade de escolha, mas isto não significa que exista só ela; a liberdade não é mera liberdade de indiferença mas antes de liberdade de diferenças ou com vista às diferenças. Durante a Idade Média discutiu-se muito amiúde a questão da indiferença na escolha. Também se debateu com renovado vigor a questão da compatibilidade ou incompatibilidade entre a liberdade humana e a presciência divina. Mas já desde o século dezasseis se pôs um problema que continuou até ao presente e que consiste em saber se o homem é livre quando se declara que há determinismo. é o célebre problema de “liberdade contra necessidade” ou “necessidade contra liberdade”. Alguns autores modernos sustentaram que a liberdade consiste fundamentalmente em seguir “a próprio natureza” enquanto esta natureza se encontra em relação estreita com toda a realidade. Espinosa é considerado, por isso, como um dos mais acérrimos determinista.. Leibniz procurou reconciliar o determinismo com a liberdade acentuando sobretudo no conceito de liberdade o “seguir a própria natureza enquanto prenhe do próprio futuro”. Outros autores, como Hobbes e Locke, propenderam a destacar no ser livre o elemento “aquilo que quero”. A discussão adquiriu uma nova dimensão pelo modo como Kant voltou a pôr o problema. Para Kant, não se trata de ver se a necessidade afoga a liberdade ou se esta pode subsistir perante a necessidade: trata-se de saber como são possíveis a liberdade e a necessidade. Todos os filósofos anteriores erraram por terem considerado que a questão da liberdade pode decidir-se dentro de uma só e determinada esfera. Perante isso, Kant estabelece que, no reino dos fenômenos, que é o da natureza, há completo determinismo; é totalmente impossível salvar, dentro dele, a liberdade. Em contrapartida, esta aparece dentro do reino do númeno, que é fundamentalmente o reino moral. Em suma, a liberdade não é nem pode ser uma “questão física”: é só e unicamente uma questão moral em no reino da moral, não só há liberdade, mas não pode não havê-la. A liberdade é, com efeito, um postulado da moralidade. É aparente o célebre conflito entre a liberdade e o determinismo. Isto não significa que a realidade fique inteiramente cindida em dois reinos separados. Significa que o homem não é livre por poder afastar-se do nexo causal; é livre porque não é inteiramente uma realidade natural. Por isso podem introduzir-se no mundo possíveis começos de novas causações.. Deste modo, a liberdade aparece como um começo — o que só é possível na existência moral, pois na natureza não há esses começos, mas tudo nela é, por assim dizer, continuação. Há a possibilidade de “uma causalidade pela liberdade”. No seu carácter empírico, o indivíduo deve submeter-se às leis da natureza, no seu carácter inteligível, o próprio indivíduo pode considerar-se como livre. A conexão entre o reino da liberdade e o reino da necessidade dáse dentro de uma realidade utilitária. Embora pertencendo, dentro da sua unidade, a dois mundos. Deste modo, não só se justifica a liberdade mas também se acentua ao máximo o seu carácter positivo. Este carácter consiste, em quase todos os idealistas pós-kantianos, na possibilidade de fundar-se a si próprio. A liberdade não é nenhuma realidade nem atributo de nenhuma realidade, é um ato que se apresenta a si próprio como livre. Este ato, que se apresenta a si mesmo ou auto-apresentação pura é, segundo Fichte, o que carateriza o puro Eu, o que se constitui em objeto de si mesmo mediante um ato de liberdade. Os sistemas deterministas, afirma Fichte, partem do dado. Um sistema fundado na liberdade parte do apresentar-se a si próprio. Ora, como o apresentar-se a si próprio equivale a constituir-se como aquilo que se é, a liberdade de que Fichte parece muito Aquilo que alguns autores chamariam necessidade. Com efeito, o eu que se apresenta a si próprio com livre, para ser, precisa de ser livre. Schelling considerou que esta concepção anula a liberdade que se propôs fundar e insiste em que a liberdade é anterior à autoapresentação: é pura e simples possibilidade. Esta possibilidade é o verdadeiro fundamento do Absoluto; por isso até está fundado na liberdade. Hegel concebe a liberdade fundamental como “liberdade da ideia#”. A ideia liberta-se a si mesma no decurso do seu autodesenvolvimento dialético; não é que a ideia não fosse livre antes do seu auto-desenvolvimento, mas a sua liberdade não era