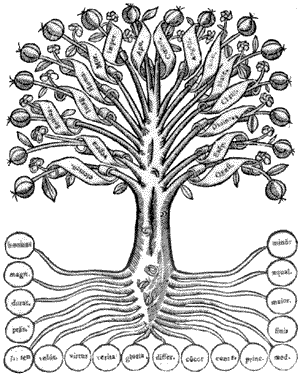(do gr. metaphora, transporte), expressão simbólica que consiste em exprimir o sentido de uma coisa através de uma imagem. — Bergson pensava que, sendo de natureza intuitiva toda a compreensão das realidades espirituais e vitais, a linguagem que as exprime só podia ser metafórica. Justificava assim a própria forma de sua língua e de sua filosofia. (Larousse)
Sua identificação e importância já são reconhecidas na antiguidade clássica. Aristóteles assim a definia: “A metáfora consiste em aplicar a uma coisa uma palavra pertencente a algo distinto”. Tratava-se de uma caracterização descritiva e considerava o fenômeno como isolado, absoluto em suas linhas. A metáfora era tomada como uma figura, entre muitas, da linguagem. Ela assim continuou a ser tratada tanto nas retóricas medievais, quanto ainda nos estudos do século passado. Algumas vezes, os conceituadores captavam aspecto de suma relevância, como, no século VIII, de Vendóme, que, a seu respeito, falava em “usurpata translado”. Os pressupostos antigos de sua apreensão, contudo, continuavam intactos. Só a partir do início do século XX, a princípio por pequenos artigos voltados à identificação de traços metonímicos (1919, 1927, 1933, 1935), depois de modo mais sistemático (1956), o linguista russo Roman Jakobson veio a dar nova substancialidade ao estudo. Sua identificação deixa de ser descritiva, isolada e gramatical para ser descoberta em nível subjacente, estrutural e relacionista. A metáfora é de então tomada em relação com a metonímia, cujo conjunto é mostrado como um dos pólos básicos de emprego do código verbal. Para tanto, foram decisivas as pesquisas do autor acerca do problema da linguagem nas perturbações afásicas (Kinder sprache Aphasie und Allgemeine Lautgesetze, 1942). Tais estudos mostraram que a afasia afeta ou a capacidade de selecionar ou a de combinar os vocábulos na frase (veja eixo da seleção). De conformidade com a área afetada, o paciente se mostra incapaz, respectivamente, de utilizar ou as relações de similaridade ou as de contiguidade. Por fim, no primeiro caso resulta o desaparecimento da capacidade do uso da metáfora e, no segundo, do uso da metonímia.
Metáfora e metonímia são, assim, as expressões mais condensadas dos processos desenvolvidos sob as relações de similaridade e de contiguidade. Ou ainda, são os resultados explícitos de démarches inconscientes, ancorados nos dois eixos básicos presentes no código expressional humano, verbal ou não verbal.
Para chegar a esta conclusão, porém, Jakobson lançou mão de outras provas. Com o par, distinguiu expressões historicamente datadas ( o romantismo, o cubismo, o cinema de Chaplin são prevalentemente metafóricos, enquanto o realismo, o cinema de Griffith, prevalentemente metonímicos), identificou direções tendenciais (a poesia tende para o metafórico, assim como a prosa tende para o metonímico) e, de maneira mais decisiva, descobriu que seu par de procedimentos opositivos subjazia aos princípios que comandam os ritos mágicos, que, segundo Frazer, seriam de dois tipos (e apenas): “as encantações repousando na lei da similaridade e as fundadas na associação por contiguidade”.
De posse do achado, que acima sintetizamos, pode-se dizer que Jakobson da identificação da relação opositiva metáfora — metonímia, revela uma das estruturas elementares da linguagem, a qual, por sua vez, conduz à descoberta da mais elementar de todas as estruturas da linguagem: a formada pelos eixos da seleção e da combinação. Metáfora e metonímia, portanto, são alternativas elementares à escolha do falante. No discurso comum, os dois usos se equilibram de maneira aleatória. No discurso organizado, tanto da prosa quanto da poesia, ao invés, sob o peso de coerções internas das formas preferidas (as tendências opostas da prosa e da poesia), de coerções histórico-sociais e, simultaneamente, individuais, o uso deste/daquele recurso se torna tendencialmente dominante. Se ao autor cabe o mérito de haver descoberto a inserção profunda do par analisado, já o estudo da dominância de um ou outro recurso na expressão tensa (discurso organizado) permaneceu em estado de simples esboço. O próprio Jakobson anteriormente escrevera: “A história literária está intimamente ligada às outras “séries” históricas. Cada uma dessas séries é caracterizada por leis estruturais próprias. Fora do estudo destas leis, é impossível estabelecer conexões entre a “série” literária e os outros conjuntos de fenômenos culturais. Estudar o sistema dos sistemas, ignorando as leis internas de cada sistema individual, seria cometer um grave erro metodológico. Com esta postulação se impugna tanto uma abordagem sociologista — contra cujos defeitos o próprio autor tem chamado a atenção — quanto uma abordagem de mecanismo linguístico — contra o qual os estudos de comunicação devem estar também atentos. (Luiz Carlos Lima – DCC).
LINGUAGEM — METÁFORA
!
Orígenes
Todas as imagens e todas as figuras comparadas à realidade dos bens verdadeiros e espirituais são fracas e terra a terra. Ora o Verbo de Deus que nos exorta a imitar a oração dos santos, a fim de que peçamos em sua realidade o que eles obtêm em figura, nos lembra que os bens celeste e de importância são significados por valores terrestres e modestos. Como se dissesse: quereis ser espirituais? Peçais em vossas orações os bens do céu e de consequência, e os tendo recebidos, herdareis o Reino dos Céus: tornados grandes, desfrutareis de bens maiores. Quanto aos bens da terra e cotidianos, dos quais tendes necessidade para vossas necessidades corporais, o Pai vo-los dá em acréscimo, na medida do necessário. (Tratado da Oração)
Cabala
Adin Steinsaltz (Adin Even Yisrael)
Excertos de “A Rosa de Treze Pétalas”. Maayanot, 1992.
Assim, a Bíblia e outras criações literárias dos judeus, como a Haggadah e a cabala, estão repletos de antropomorfismos de todos os tipos, não somente com relação à deidade, mas em todo tipo de descrição. Esta humanização da realidade do mundo, tanto dos objetos e criaturas inferiores ao homem quanto dos superiores, está entre os aspectos profundamente consistentes do uso da língua sagrada. Como o expressou um dos sábios: “A alma descreve tudo de acordo com a configuração das suas mansões, que é o corpo”. Em outras palavras, o mundo é conceitualizado e seus objetos são descritos por um sistema de metáforas baseado no corpo humano. Então, a linguagem “eleva os inferiores”, por imagens como “a cabeça [topo] da montanha” e “o pé da montanha”; e ela “abaixa os superiores”, mediante descrições como o “assento” do Todo-poderoso, a “mão” de Deus, o “olho” do Senhor, e assim por diante.
Este uso das imagens e dos símbolos plásticos é tão característico da linguagem, que é difícil achar uma frase das Escrituras que não esteja construída com base na descrição metafórica, no lugar da conceitualização abstrata. Conceitos associados a imagens são achados em toda parte, em quase todos os parágrafos dos livros da lei e da jurisprudência, assim como na poesia e na literatura, e servem primariamente, e muito surpreendentemente, para descrever tudo o que pertence ao sagrado.
Precisamente devido a esta prevalência da afirmação metafórica, e ao uso muito difundido de figuras de fala extraídas da imagem humana, torna-se mais necessário ainda enfatizar que são verdades alegóricas, não descrições verdadeiras da realidade, porque havia um certo perigo de que as imagens de palavras, ou descrições por imagens, de símbolos sagrados na Bíblia — e ainda mais na Cabala — pudessem levar a uma percepção cruamente material da essência divina e da realidade superior. Daí surge a proibição contra toda representação da santidade através de meios físicos e plásticos. Acompanhando-a, e talvez originando-se nesta extrema rejeição à semelhança plástica do Divino, a tradição judaica também mantém uma certa suspeita da tendência do homem para desenhar, elaborar e retratar a si mesmo.
Filosofia
Michel Henry: Eu sou a Verdade
Ora a porta do cercado que, ao dizer da estranha parábola (Pastor e Ovelhas), dá acesso ao lugar onde pastam as ovelhas, fundando acima Ipseidade transcendental na qual cada eu, se reportando a si e se acrescendo de si, retira a possibilidade de ser um eu, esta porta, lemos, dá acesso ao conjunto dos eus transcendentais viventes — não a um só dentre eles, àquele que eu sou eu mesmo. O Cristo não se mantem só em mim como a força que, me oprimindo contra mim, faz sem cessar de mim um eu. Cada eu não advém a ele mesmo senão desta maneira, no poder formidável deste constringir no qual ele se auto-afeta de maneira contínua. Eis porque a porta abre sobre todos os viventes. De acesso a cada um dentre eles, disto só é possível através do Cristo. E é preciso compreender o que uma tal proposição significa com todo o rigor. Se o acesso a todo eu concebível pressupõe sua vinda nele mesmo à favor de uma Ipseidade prévia que não procede dele mas da qual ele procede, então com efeito aceder a este eu quer dizer tomar emprestado a via desta vinda prévia nele nele da qual ele resulta — atravessar a porta, atravessar a parede incandescente desta Ipseidade original na qual queima o fogo da Vida. Impossível chegar até cada um, alcançá-lo, exceto através do Cristo. Através da Ipseidade original que o reporta a ele mesmo, fazendo dele um Si — este alguém, este “eu” que ele é. Impossível tocar uma carne exceto através de uma Carne original, a qual em sua Ipseidade essencial dá a esta carne de se sentir a si mesma, de se experienciar a si mesma, lhe concede ser uma carne. Impossível tocar esta carne sem tocar a outra carne que fez dela uma carne. Impossível de atingir alguém sem atingir o Cristo. E é o Cristo que o diz: «O que fazes ao mais pequenino dentre vossos irmãos, é a mim que o fazes» (Mt 25,35).
Não se trata de uma metáfora. A palavra não quer dizer: o que fazes a um de nossos irmãos, é como se me fizésseis a mim. No cristianismo, não há metáfora, nada que seja da ordem do “como se”. E isso porque o cristianismo só tem a ver com a realidade, não a do imaginário ou a dos símbolos. Um “eu” não é como se fosse um “eu”. Este eu que eu sou não é como se fosse meu eu para mim. Neste caso poderia também ser como se fosse aquele de um outro, um outro eu. Estas derivas imaginárias pertencem às representações febris da doença, notadamente da doença da vida na qual cada um se volta contra si e não quer mais ser aquele que é, se identificando à necessidade, deste fazer, a um outro. Longe de pôr em causa o irremediável de um eu ancorado para sempre nele mesmo, as derivas imaginárias o pressupõem. Mas o eu não está ancorado nele mesmo para sempre senão pela força da Ipseidade essencial que, lhe dando a ele mesmo e o ligando a ele mesmo em seu constringir patético, fez dele este eu que ele é para sempre. Logo antes que este eu fosse, a Ipseidade original do Arque–Filho o projeto nele mesmo. Sem esta Ipseidade que o precede, nenhum eu não seria jamais. Logo eu, se eu tenho a ver a mim, eu tenho então a ver ao Cristo. E se eu tenho a ver a um outro, eu tenho então a ver nele ao Cristo. Em tudo o que eu lhe faço, eu o faço então ao Cristo. A significação destas implicações que suportam a ética cristã aparecerá mais tarde.
A metáfora desenvolve uma comparação entre dois seres ou duas situações, como, por exemplo, qualificar de dilúvio verbal a eloquência de um orador. (DS)