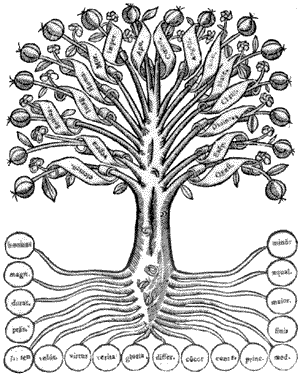(in. Sovereignty; fr. Souveraineté; al. Souveränität; it. Sovranità).
Poder preponderante ou supremo do Estado, considerado pela primeira vez como caráter fundamental do Estado por Jean Bodin, em Six livres de la republique(1516). Segundo Bodin, a soberania consiste negativamente em estar liberado ou dispensado das leis e dos usos do Estado; positivamente, consiste no poder de abolir ou criar leis. O único limite da soberania é a lei natural e divina (Six livres de la republique, 9a ed., 1576,1, pp. 131-32). O termo e o conceito foram aceitos por Hegel: “As duas determinações, de os negócios e os poderes particulares do Estado não serem autônomos e estáveis nem em si mesmos, nem na vontade pessoal dos indivíduos, mas de terem raízes profundas na unidade do Estado — que outra coisa não é senão a identidade deles — constituem a soberania do Estado” (Fil. do dir., § 278). Hegel esclarece esta noção dizendo: “O idealismo que constitui a soberania é a mesma determinação segundo a qual, no organismo animal, as chamadas partes deste não são partes, mas membros, momentos orgânicos cujo isolamento ou existência por si é enfermidade” (Ibid., § 278). Essas determinações de Hegel são dirigidas contra o princípio afirmado pela Revolução Francesa, de que a soberania está no povo. Rousseau qualificara de soberano o corpo político que nasce com o contrato social (Contrat. social, I, 7) e assim definira o seu poder: “O corpo político ou soberano, cujo ser deriva tão-somente da santidade do contrato, nunca pode obrigar-se, nem mesmo em relação a outros, a nada que derrogue aquele ato primitivo, que seria a alienação de alguma parte de si mesmo ou a sua submissão a outro soberano. Violar o ato graças ao qual existe significaria anular-se; e o que nada é nada produz ” (Ibid., I, 7). Portanto, o princípio da soberania é ser o poder mais alto em certo território: isso não significa poder absoluto ou arbitrário. Para a moderna teoria do direito, a soberania pertence à ordenação jurídica (v. Estado), sendo entendida como a característica em virtude da qual “acima da ordenação jurídico-estatal não existe outra” (H. Kelsen, General Theory of Law and State, 1945; trad. it., p. 390). Segundo Kelsen, se admitirmos a hipótese da prioridade do direito internacional, o Estado pode ser considerado soberano apenas em sentido relativo-, se admitirmos a hipótese da prioridade do direito estatal, pode ser chamado de soberano no sentido absoluto e originário da palavra. A escolha entre as duas hipóteses é arbitrária (Ibid., p. 391). (Abbagnano)
A soberania absoluta compete exclusivamente a Deus. A criatura só pode ser soberana, no sentido de não estar subordinada a nenhuma autoridade terrena superior, isto é, no sentido de estar subordinada só a Deus e à sua lei moral e jurídica (direito natural), o que implica manter-se dentro dos limites do âmbito do poder próprio (âmbito do direito e da competência), e respeitar o direito alheio, inclusive quando não é possível ser coagido a fazê-lo. Numa palavra, é soberano quem não tem acima de si outra autoridade que não seja o direito.
Num mundo em que os povos e os Estados coexistem sem organização que os una mutuamente, os Estados são plenamente soberanos. A pretensa soberania total e absoluta mostra-se muito relativa, na medida em que tarefas até agora próprias dos Estados passam a ser desempenhadas por entidades de natureza inter-esta-dual e supra-estatal, e começa a constituir-se com eficácia operativa a comunidade jurídica que sempre existiu entre os povos. No que respeita a várias questões, pode a soberania (le droit du dernier mot: o direito de proferir a última palavra) encontrar-se em diversas entidades; acima dos Estados ergue-se o poder executivo organizado do direito internacional.
A fórmula “o poder do Estado procede do povo” admite um sentido exclusivamente dentro do plano da organização e do direito constitucional. De fato, as mais das vezes, pretende provavelmente expressar a doutrina filosófico-política da soberania do povo: o poder político (seja qual for o modo de conceber sua relação com Deus) encontra-se originária e invariavelmente no povo unido em forma de Estado. Em sentido racionalista e individualista quer isso dizer que a vontade do povo (a maioria) permanece sempre por cima dos sujeitos que desempenham as funções estatais, até ao ponto de estes ficarem reduzidos à condição de meros funcionários dependentes daquela, que a todo momento podem ser destituídos. Diante de semelhante concepção, a doutrina clássica fala de órgãos. O povo pode constituir-se a si mesmo em órgão supremo do Estado; no qual caso, poderá reservar para si o exercício do poder estatal. Se o não faz, ou se isso se revela ser impossível, e, consequentemente, surge a necessidade de constituir órgãos estatais peculiares (governo, representação popular, etc), o exercício do poder passará a estes órgãos, levando anexa a faculdade de obrigar necessariamente, mercê da condição de órgãos, que estes possuem. Quando se verifica esta estrutura política, as deficiências dos órgãos supremos do Estado, a incapacidade dos mesmos para o desempenho das funções que lhes cabe desempenhar ou o fracasso, equiparável a essa incapacidade, conduzem o Estado a uma situação de calamidade pública. Em virtude de sua soberania, o povo tem, então, não só o direito senão o dever de ajudar a remediá-la, consoante o permitam as circunstâncias; equivale isso a constituir de novo órgãos aptos para o desempenho das funções correspondentes, quer colocando nos órgãos já existentes pessoas diferentes das anteriores, quer criando órgãos que antes não existiam. Com esta questão se entrosam os problemas difíceis relativos ao direito e ao dever de resistência, problemas para os quais ainda não foi encontrada solução unânime. — Nell-Breuning. (Brugger)