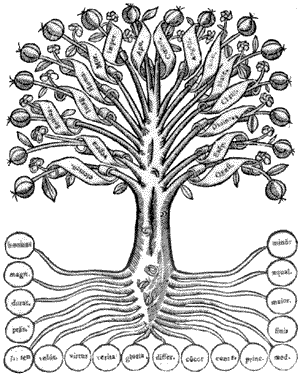A liberdade de eleição, ou livre arbítrio, ou livre alvedrio é a capacidade que o ser espiritual tem de tomar por si mesmo (isto é, sem ser precedentemente determinado univocamente por coisa alguma) uma posição em face de valores limitados conhecidos, de escolher ou não escolher o bem limitado, de escolher este ou aquele bem concebido como limitado. Portanto a liberdade da vontade só é tomada em consideração onde se apreende um valor como real, mas limitado, unido a um não-valor, que é tal desde outro ponto de vista. Quando alguma coisa aparece como valor absoluto tal que a tendência a ele não leva anexo nenhum não-valor noutro sentido, a vontade deve — não por coação, mas de acordo com o seu peculiar impulso natural para tudo quanto é valioso (apetite) — afirmar o bem em questão e tender necessariamente para ele. Além disso, a liberdade da vontade não significa, por forma alguma, capacidade para querer “sem causa”, como repetidamente afirmam muitos adversários do livre arbítrio (deterministas), por desconhecerem a verdadeira doutrina da liberdade. Não há querer imotivado. A liberdade da vontade não quer dizer que esta não possa ser intensamente influenciada e solicitada pelos motivos ou que permaneça absolutamente indiferente perante eles. Nem tampouco significa que, de fato, os homens queiram sempre livremente, pois que muitas ações da vida cotidiana se praticam sem qualquer apreciação de motivos. Além disso, como a deliberação necessária para a escolha pode ser também limitada e entorpecida pela paixão ou por estados patológicos, como p. ex., por ideias obsessivas e outros transtornos idênticos, podemos com razão, em tais circunstâncias, falar de minoração da liberdade e da imputabilidade, embora não da total supressão das mesmas (a não ser nos casos de grave enfermidade mental).
O fato do livre arbítrio infere-se, antes de mais nada, de suas relações com a personalidade ética. Sem liberdade da vontade e, portanto, sem a possibilidade de querer desta ou daquela maneira, não pode o homem razoavelmente ser mais responsável das orientações de sua vontade, nem mais digno de prêmio ou de castigo, do que o é um enfermo de sua enfermidade. Por conseguinte, sem liberdade da vontade também não é possível separar razoavelmente do puro valor de utilidade a bondade moral ou a maldade do querer. O imperativo categórico da consciência careceria, então, de sentido, tanto como a vivência da boa ou má consciência, a culpabilidade, o arrependimento, etc. Com a renúncia à liberdade da vontade deveria simultaneamente renunciar-se à dignidade ética da personalidade, mas com isso perderia também seu sentido o ser inteiro do homem. — Além disso, a consciência da liberdade antes, em e depois das decisões voluntárias (aliás, admitida como um fato por muitos adversários), é um fato tão universal e fàcticamente invencível, que não se pode explicar sempre e em todos os casos, p. ex., por mera auto–ilusão, por ignorância inconsciente de motivos, etc, mas só pela realidade da liberdade da vontade. Que, não obstante, seja possível em muitos casos predizer com o máximo de probabilidade decisões ulteriores das pessoas, quando se conhecem exatamente seu caráter, inclinações e situações, isso explica-se pelo fato de, em muitos casos, os homens escolherem precisamente aquilo que, de ordinário, corresponde a seus costumes, a suas inclinações estáveis, ou a considerações de sua situação, principalmente se esta não oferece ensejo especial para uma escolha contrária (cf. os experimentos de Ach para “refutar” a liberdade da vontade). — Tampouco se pode asseverar que, mesmo sem liberdade da vontade, os conceitos éticos fundamentais conservariam seu pleno sentido, porque, p. ex., o homem deveria ter formado melhor o caráter que agora o determina ao mal. De fato, se êíe não é livre, não podia formar o caráter de outra maneira, e, por conseguinte, não é responsável pelos efeitos deste.
A liberdade da vontade radica, em última instância, na essência do ser espiritual. Este, de um lado, deve chegar, de maneira essencialmente necessária, ao conhecimento do valor meramente relativo dos fins limitados apetecidos (ao juízo valorativo indiferente, o qual diz: o fim em questão sintoniza-se, em parte, bem, e, em parte, menos bem, com o sentido do querer; mas sob outro aspecto, também o contradiz; pelo que, não oferece a fundamentação absoluta de uma volição); do outro lado, uma vontade psicologicamente determinada, também neste caso, estaria necessária e essencialmente ordenada a tal fim; por conseguinte, a orientação intencional da vontade a si mesma se contradiria, a vontade a si mesma se aniquilaria e se converteria num absurdo. — A liberdade da vontade não repugna, por forma alguma, à validade universal do princípio de razão suficiente ou à validade, não menos universal, do princípio de causalidade, cujo caso particular, a lei de causalidade, se restringe, em sua validade, aos acontecimentos do mundo corpóreo. Razão suficiente, embora não necessitante, do querer é sempre a bondade apreendida do fim. Causa eficiente bastante do ato volitivo é a vontade satisfeita com os motivos ou a própria alma, enquanto tem em si a eficácia produtora não só de uma, mas de muitas direções da vontade. Mas não se demonstrou como sendo lei universalmente válida e necessária, o fato de uma causa suficiente em cada caso, embora atuando como força decisiva à luz de um completo conhecimento de várias possibilidades, dever ser uma causa coarctada, capaz unicamente da ação em questão.
Alguns defensores da liberdade da vontade (indeterministas) tentaram, mediante profundas controvérsias especulativas, examinar mais em pormenor o “como” da gênese e da possibilidade dos atos volitivos livres, e também da cooperação dos mesmos com a onipotência e a razão divina. Assim, nos séculos XVI e XVII, Báñez, Molina, Belarmino ( concurso de Deus, presciência divina, molinismo), Leibniz (doutrina da eleição do fim que em cada caso parece ser o melhor, com o que a liberdade ficaria logicamente suprimida) e outros. Não se conseguiu até hoje o acordo definitivo sobre esta questão, talvez só possível psicologicamente, e que esbarra na impossibilidade de elucidar, de modo exaustivo, com nossos meios racionais, a essência e a ação de Deus nas criaturas. Para a apreciação de tais tentativas, é essencial que, nos intentos de explicação teorética, fiquem a salvo a liberdade, a responsabilidade, a dignidade ética do homem e, com elas, a justiça, e a veracidade de Deus, bem como a dependência da criatura relativamente ao Criador. — Segundo Kant, a liberdade da vontade não é teoreticamente demonstrável; deve, porém, admitir-se como pressuposição das exigências éticas. Todavia, ela não consiste propriamente na liberdade de optar perante valores limitados, mas na independência a respeito dos impulsos sensitivos, a qual, ria verdade, não significa livre arbítrio, mas espiritualidade exagerada da vontade. — WlLLWOLL. (Brugger)
Mas esta autonomia da vontade nos abre já uma pequena porta em direção àquilo que desde o princípio desta lição estamos procurando; abre-nos já uma pequena porta fora do mundo dos fenômenos, fora do mundo dos objetos a conhecer, fora da espessa rede de condições que o ato de conhecimento pôs sobre todos os materiais com que se faz o conhecimento. Porque se a vontade moral pura é vontade autônoma, então isso implica necessária e evidentemente no postulado da liberdade da vontade. Pois como poderia ser autônoma uma vontade que não fosse livre? Como poderia ser a vontade moralmente meritória, digna de ser qualificada de boa ou de má, se a vontade estivesse sujeita à lei dos fenômenos, que a causalidade, a lei de causas e efeitos, a determinação natural dos fenômenos?
Na Crítica da Razão Pura vimos que nossas impressões, quando recebem as formas do espaço, do tempo e das categorias, se tornam objetos reais, objetos a conhecer pela ciência. Este conhecimento da ciência consiste em ligar indissoluvelmente todos os fenômenos uns aos outros, por meio da causalidade, da substância, da ação recíproca e pelas formas e figuras da causalidade, da substância, da ação recíproca e pelas formas e figuras no espaço e dos números no tempo.
Pois bem: se nossa vontade, nas suas decisões internas estivesse irremediavelmente sujeita, como qualquer outro fenômeno da física, à lei da causalidade sujeita a um determinismo natural, então, que sentido teria que nós vituperássemos o criminoso ou venerássemos o santo? Porém é um fato que nós censuramos ao mau, vituperamo-lo; e é um fato também que nós respeitamos ao santo, louvamo-lo e o aplaudimos. Esta valorização que fazemos de uns homens no sentido positivo e de outros no sentido negativo (pejorativo) é um fato. Que sentido teria este fato se a vontade não fosse livre? É, pois, absolutamente evidente, tão evidente como os princípios elementares das matemáticas, que a vontade tem que ser livre, sob pena de que se tire a conclusão de que não há moralidade, de que o homem não merece nem aplausos nem censuras.
Pois bem; se a consciência moral é um fato, tão fato como o fato da ciência, e se do fato da ciência extraímos as condições da possibilidade do conhecimento científico, igualmente do fato da consciência moral temos que extrair também as condições da possibilidade da consciência moral. E uma primeira condição da possibilidade da consciência moral é que postulemos a liberdade da vontade. Mas se a vontade é livre, é que então entramos em contradição com a Natureza? Se a vontade é livre, então parece como se na rede de malhas das coisas naturais tivéssemos cortado um fio, rompido um fio. Entramos, pois, por acaso, em contradição com a Natureza? Não; não entramos em contradição com a Natureza. Aqui, neste ponto, é que se concentram todas as precauções com que Kant teve de desenvolver a Crítica da Razão Pura. Nela Kant foi advertindo constantemente que o conhecimento físico, científico, é conhecimento de fenômenos, de objetos a conhecer, mas não de coisas em si mesmas. Todavia a consciência moral não é conhecimento. Não nos apresenta a realidade essencial de algo, mas antes é um ato de valorização, não de conhecimento, que nos coloca em contacto direto com outro mundo, que não é o mundo dos fenômenos, que não é o mundo dos objetos a conhecer, mas o mundo puramente inteligível, no qual não se trata já do espaço, do tempo, das categorias; no qual espaço, tempo e categorias não têm nada a fazer; é o mundo de umas realidades supra—sensíveis, inteligíveis, às quais não chegamos como conhecimento, mas como diretas intuições de caráter moral que nos põem em contacto com essa outra dimensão da consciência humana que é a dimensão não cognoscitiva, mas valorizadora e moral. De modo que nossa personalidade total é a confluência de dois focos, por assim dizer: um, nosso eu como sujeito cognoscente, que se expande amplamente sobre a Natureza na sua classificação em objetos, na reunião e concatenação de causas e efeitos e seu desenvolvimento na ciência, no conhecimento científico, matemático, químico, biológico, histórico etc. Mas, ao mesmo tempo esse mesmo eu, que quando conhece se põe a si mesmo como sujeito cognoscente, esse mesmo eu é também consciência moral, e sobrepõe a todo esse espetáculo da Natureza, sujeita às leis naturais de causalidade, uma atitude estimativa, valorizadora, que se refere a si mesmo, não como sujeito cognoscente, mas como ativo, como agente; e que se refere aos outros homens na mesma relação.
Assim, pois, a consciência moral nos entreabre um pouco o véu que encobre este outro mundo inteligível das almas e consciências morais, das vontades morais, que nada tem a ver com o sujeito cognoscente. [Morente]