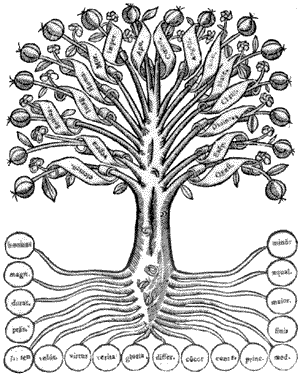Se quiséssemos resumir numa só expressão breve o mais essencial no ponto de vista adotado pelo empirismo, teríamos que dizer que o empirismo é o esforço maior que se conhece na história do pensamento humano para reduzir o pensamento a pura vivência. Dito assim, parece que não se faz senão a comprovação de um fato histórico; porém não é difícil advertir o que tal fato significa. Significa em primeiro lugar o desconjuntamento que a filosofia inglesa leva a efeito dos elementos articulados na unidade cio conhecimento.
A descrição fenomenológica que fizemos do conhecimento nos revela que o conhecimento é uma correlação entre um sujeito e um objeto mediante um pensamento. Os elementos essenciais do conhecimento são o sujeito cognoscente e o objeto conhecido; ambos em relação indissolúvel, e essa correlação se sustenta sobre o gonzo do pensamento. Pois bem: o que faz o empirismo inglês é, em primeiro lugar, desarticular entre si esses três elementos; tomar o elemento pensamento e despojá-lo de toda relação com os outros dois. Essa relação com os outros dois consiste principalmente em que o sujeito dá ao pensamento um sentido; enuncia, acerca do objeto, uma tese.
O caráter enunciativo, o caráter de menção, plena de sentido, que tem o pensamento, desaparece para os ingleses, e resta o pensamento somente como pura vivência. Esta é, a meu entender, a mais exata e mais profunda operação que os ingleses levaram a efeito numa análise do conhecimento. Mas ao desarticular desta forma o pensamento, do sujeito por um lado e do objeto pelo outro; ao prescindir daquilo que todo pensamento tem de enunciativo, de tático, de tese (afirmação ou negação acerca de algo); ao prescindir, pois, do caráter lógico e da referência ontológica ao objeto, os ingleses tomam o pensamento como um puro fato; como um puro fato da consciência; como algo dado aí; como um fato que está aí. E se propõem, ao modo dos naturalistas, explicar como esse fato advém e se produz em virtude de outros fatos anteriores.
Em suma, se se me permitir o emprego de um neologismo que cada dia vai-se tornando mais indispensável na filosofia atual, direi que os ingleses, convertendo o pensamento em pura vivência, o tomam com seu caráter puramente “fático”, fazem dele um puro fato. A consequência$desta atitude — que é clara desde Locke, embora este não a leve a suas últimas consequências, mas Hume, sim — é primeiramente, a eliminação do objeto como coisa. Esta eliminação do objeto como coisa leva-a a efeito Berkeley. Em segundo lugar a eliminação do próprio sujeito como coisa. Esta eliminação leva-a a efeito Hume. De modo que, de um lado, a noção de objeto se desvanece visto que o pensamento é uma pura vivência, é um fato, e esse fato não é mais referido a nenhum objeto fora dele, nem a nenhum sujeito que o forje ou que o crie. Apresenta-se o pensamento como um puro fato psicológico.
Que se propõem com isto os ingleses? Propõem-se algo de suma importância: propõem-se a acabar com a noção de coisa em si mesma Com efeito, a raiz profunda do idealismo, desde o próprio Descartes, é eliminar do tabuleiro filosófico essa noção de coisa em si mesma. Não há coisas em si mesmas. Aquilo que chamamos as coisas são os termos de nossas vivências, são os objetos intencionais de nossas vivências. Assim é que nisto os ingleses deram um passo de extraordinária importância para toda a história do pensamento moderno insistindo sobre a impossibilidade, sobre o absurdo de pensar uma coisa em si mesma. O absurdo o expõe em duas palavras e com uma precisão matemática Berkeley quando adverte que pensar uma coisa em si mesma é uma contradição, porque é pensar uma coisa enquanto que não é pensada. Segundo os idealistas, coisa em si é coisa não pensada por ninguém; e pensar a coisa não pensada por ninguém é uma contradição.
Por conseguinte, o empirismo inglês chega a ser a forma mais plena, mais completa do idealismo psicológico. Este idealismo psicológico consiste: primeiro, em desconjuntar o ato do conhecimento que compreende estes três termos: sujeito, pensamento, objeto, e não tomar como termo de pesquisa filosófica mais que o pensamento mesmo; segundo, em negar toda realidade “em si” ao objeto e no sujeito. Não resta, pois, como realidade “em si” nada mais que o pensamento, nada mais que a ideia, nada mais que a impressão, segundo a terminologia de Hume. E daqui a resposta à pergunta metafísica: quem existe? Se não existe o sujeito, se não existe o objeto, não existe mais que o pensamento como vivência; o pensamento desligado daquilo a que se refere e daquele que o refere a isso. Por conseguinte, o que chamamos “realidade” é uma mera crença, forjada pela combinação ou associação dos pensamentos, das ideias: é outro fato que se deduz dos fatos chamados pensamentos. E aquilo que chamamos o eu ou a alma é também uma mera hipótese, na qual acreditamos pelas mesmas razões de hábito e de costume pelas quais acreditamos na existência do mundo exterior. Resta somente como última realidade, a resposta suprema à pergunta metafísica: quem existe? seria, pois, esta: as vivências e mais nada.
Encontramo-nos aqui com um positivismo, com um fenomenalismo, com um sensualismo — como queira chamar-se — que ao que mais se parece é a posição positivista de alguns filósofos alemães moderações. Esses objetos são as realidades físicas. Com essas sensações mais nada. Segundo isto, há somente duas ciências universais: uma ciência das sensações para cá (a psicologia); outra ciência das sensações para lá (a física). Com as sensações, aliando-se umas às outras, em combinações e associações sintéticas várias, compomos isso que chamamos os objetos que não são mais do que sínteses de sensações. Esses objetos são as realidades físicas. Com essas sensações fazemos ao mesmo tempo o sujeito; e essas sensações, olhando para a composição sintética que chamamos sujeito, produzem a psicologia. A psicologia é, pois, (como o é, com efeito, para Ernest Mach), a face que olha para cá desta realidade que são as verdade? puras; enquanto que a face que olha para lá é a composição objetivadora disso que se chama a física.
Crítica do empirismo inglês; a vivência como veículo do pensamento.
Este é o balanço que podemos fazer em linhas gerais do empirismo inglês. Que juízo podemos nós agora emitir sobre esta teoria? Que devemos pensar sobre esta teoria do empirismo inglês? Adverte-se de início que o empirismo inglês arruína por completo o essencial do conhecimento. O empirismo inglês priva ao conhecimento de base e de sentido. Com efeito, o empirismo elimina do pensamento aquilo que tem de lógico. E que é aquilo que o pensamento tem de lógico? Aquilo que o pensamento tem de lógico é o que tem de enunciativo, ou, como se pode dizer também, de tético, de tese, de afirmação ou negação de algo. Todo pensamento é, com efeito, uma vivência; mas, além de uma vivência, todo pensamento é uma vivência que diz, que põe, que afirma ou que nega algo do objeto; e o afirma ou o nega do objeto com sentido. Que significa “com sentido”? Significa que esta enunciação, esta tese, esta afirmação que faz o pensamento, tem um valor objetivo; quer dizer, que aquilo de que o diz, tem um ser; que esse ser “é”, e que esse ser constitui o termo natural do conhecimento. Os ingleses acham que o pensamento tem duas faces, dois rostos: uma que é a da vivência pura e outra que é a enunciativa de algo; uma em que o pensamento é modificação puramente psicológica na consciência; a outra em que o pensamento assinala e afirma ou nega algo de algo, a parte enunciativa. E por que prescindem da parte enunciativa? Porque os cega o caráter vivencial do pensamento e não percebem que no conhecimento a vivência não é, para o sujeito, senão um trampolim, uma espécie de base, por meio da qual o sujeito, apoiando-se na vivência, quer enunciar algo acerca de algo. Tomemos, por exemplo, a crítica clássica que Berkeley faz do conceito geral, Berkeley diz: os conceitos gerais não existem; o triângulo não existe; o triângulo é unicamente um nome, flatus vocis; com o qual o empirismo renova o nominalismo da Idade Média. Pois bem; como mostra, como demonstra, como explica Berkeley o que ele quer dizer? Demonstra-o com uma argumentação que parece muito convincente. Diz: “A prova de que o triângulo não existe é esta: tentem — convida aos leitores — realizar a ideia do triângulo; tentem imaginar esse triângulo e não poderão, porque imaginarão um triângulo que será isósceles ou escaleno necessariamente; porque ao mesmo tempo não pode ser ambas as coisas; e todavia, a palavra, o nome, o nome de triângulo refere-se a algo que teria que ser ao mesmo tempo isósceles e escaleno. Pois bem: não o podem realizar, não o podem imaginar, não o podem desenhar; não é possível que se dê na natureza nenhum triângulo ao mesmo tempo isósceles e escaleno. Logo triângulo é um simples nome.”
Que acontece aqui? Simplesmente que, hipnotizado pela vivência pura, esqueceu Berkeley que essa imagem que nos convida a realizar não é o pensamento mas a vivência, e que por cima dessa vivência, o que realmente chamamos pensamento é aquilo que a vivência enuncia. É claro que não podemos imaginar um triângulo que não seja nem escaleno nem isósceles; terá que ser uma das duas coisas. Mas é que o triângulo que imaginamos não é o triângulo que pensamos, antes o triângulo que imaginamos serve-nos de trampolim sobre o qual necessariamente fazemos a enunciação lógica, a enunciação racional. O pensamento racional não é a imagem com a qual pensamos racionalmente. A imagem ou a vivência com a qual pensamos, ou seja enunciamos, não pode confundir-se de modo algum com a própria enunciação. A imagem ou a vivência é uma coisa, e o mencionado, o indicado, o aludido pela imagem ou vivência é outra muito distinta. O pensamento é o aludido, o mencionado pela imagem e a vivência; aquilo, para exprimir o qual, a imagem e a vivência necessariamente servem. Isto que a imagem e a vivência querem dizer é o aspecto enunciativo, racional, lógico, puro, do pensamento, que os ingleses não viam porque estavam hipnotizados pelo caráter vivencial mesmo. O caráter vivencial mesmo é um fato psicológico, concreto, determinado. Eu, com efeito, se me proponho realizar imaginativamente o triângulo, não posso realizá-lo mais que ou isósceles ou escaleno. Mas é que aquilo que eu chamo pensamento não é somente a vivência, mas a vivência enquanto que serve de sinal para designar além dela mesma uma enunciação intelectual, que não poderia ser designada mais que pelos meios limitados, psicológicos, de uma vivência. Porém a vivência não está aí mais que como representante daquilo a que se refere: a enunciação pura.
Havendo eliminado, pois, o empirismo este caráter enunciativo, lógico, do pensamento, suprimiu a objetividade do conhecimento. Suprimiu de um golpe a objetividade do conhecimento porque suprimiu toda referência ao objeto. Aqui os empiristas cometem exatamente o mesmo erro, porém em outro plano. Eles querem anular o ser em si, anular a coisa em si, e com isso a pretensão de que as coisas existem independentemente de que sejam ou possam ser conhecidas por ninguém, pretensão sem sentido se tratasse de instalar como tal coisa em si um objeto impensável, visto como, somente dizer objeto impensável é já pensá-lo de certo modo. Porém ao querer anular o ser em si das coisas, resulta que anulam todo o ser das coisas; como se não houvesse entre ser em si e não ser um termo médio. Eles acreditam que ou a coisa é em si ou não ó em absoluto. Porém há um modo de ser que não é o ser somente em si. O “em si” ó aqui o importante. Há um modo de ser que precisamente é o ser no conhecimento e para o conhecimento, na correlação do conhecimento; um ser que não é o ser somente em si, mas que não é zero de ser, antes é um ser posto, proposto; melhor dito, o ser do conhecimento.
Os ingleses cometem este erro e se não o reconhecem é porque no fundo conservam um resíduo de realismo. No fundo não conseguiram afastar-se por completo do realismo aristotélico. E qual ó esse resíduo de realismo que levam dentro do corpo sem perceber que o levam? Pois muito simplesmente: acreditar que não há mais do que o ser em si. Mas então, como continuam pensando o ser sob a espécie realista do ser em si; como continuam’ conservando, como resíduo do realismo, o “em si”, não encontram, no objeto, naturalmente, nenhum “em si”; e então tiram-lhe todo ser, sem compreender que isto não é possível. O mesmo se passa no sujeito. Hume faz análise; encontra que não há impressão que corresponda ao eu e que não há eu “em si”, e tira a conclusão: então não o há em absoluto. E agora, que fazem? Conservam o “em si” no pensamento, nas vivências. As vivências são para eles coisas em si mesmas. Por isso Berkeley e Hume dizem: nós não estamos em contradição com o ponto de vista ingênuo de todo mundo; dizemos que esta lâmpada existe, dizemos que este papel existe, porque existir é ser percebido. E é que injetaram na vivência o caráter da coisa realista que tem em Aristóteles a coisa. Em Aristóteles o “em si” tinham-no as coisas, e eles puseram-no na vivência e tiraram-no do objeto e do sujeito. Porém isto é um resíduo de realismo.
Então, que vai acontecer aqui? Pois acontece que vai ser preciso que venha_ alguém que advirta, que veja que há uma modalidade do ser que não é nem o ser em si nem o nada, mas uma modalidade do ser que consiste em ser objeto para um sujeito. Na correlação irrompível do conhecimento o ser do objeto não ó um ser em si. Mas uma coisa é que não seja um puro ser em si e outra coisa é que não seja. Qual será este ser? Será um ser lógico, um ser posto para ser conhecido, um ser proposto, um ser problema. Por isso podemos acentuar o dito de Berkeley, de que ser é ser percebido. Mas uma vez que o ser é percebido, uma vez que esta lâmpada é o termo de minha percepção desta lâmpada, que é esta lâmpada como objeto de conhecimento? Está aqui como ser percebido, mas ser conhecido é outra coisa; e o ser do conhecido é um ser conhecido. Esse ser conhecido, que não é em si, mas que é mais e distinto do ser percebido, isso é o que haverá que esperar que chegue Kant para que nos explique bem o que é. [Morente]