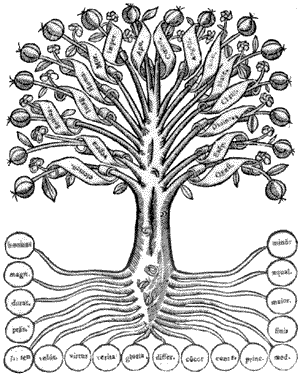O problema sociológico, propriamente dito, pelo menos tal como o coloca a fenomenologia, antes de ser um problema de método, é um problema de ontologia: apenas uma definição eidética adequada do social permite uma aproximação experimental fecunda. Isto não significa, como já observamos a propósito de outros assuntos, que seja útil, elaborar a priori uma “teoria” do social, nem forçar os dados científicos até exprimir conclusões concordes com a eidética. Na realidade essa eidética indispensável deve construir-se no curso da exploração dos próprios fatos e também após. Ela é uma crítica mas, como dizia Husserl, toda crítica revela já sua outra face, sua positividade.
Ora, a compreensão, fundamental para todo saber antropológico e de que acabamos de falar, exprime minha relação fundamental com o outro. Em outros termos, todo antropólogo projeta a existência de um sentido daquilo que ele estuda. Esse sentido não se reduz a uma função de utilidade por exemplo, ele só pode ser definido corretamente se é referido ao homem ou aos homens estudados; há portanto em toda ciência humana o “postulado” implícito da compreensibilidade do homem pelo homem; por conseguinte, a relação do observador com o observado, nas ciências humanas, é um caso da relação do homem com o homem, do eu com o tu. Portanto, toda antropologia e especialmente a sociologia, contém em si mesma uma socialidade originária, se procurarmos entender com isso essa relação pela qual os sujeitos são dados uns aos outros. Essa socialidade originária, enquanto solo de todo saber antropológico, necessita de uma explicação, cujos resultados poderão em seguida ser retomados a fim de iluminar a própria ciência social. “O social já está presente quando o conhecemos ou o julgamos. . . Antes da tomada de consciência, o social existe surdamente e como uma solicitação ” (Fenomenologia da Percepção, 415). Rememoremos a elaboração teórica do problema do outro, já esboçada a propósito de Husserl: como é possível que eu não perceba o outro como um objeto, mas como um aiter ego? A hipótese clássica do raciocínio analógico pressupõe que ela devia explicar, como o demonstra Scheler (Essence et forme de la sympathie). discípulo de Husserl. Pois a projeção sobre a conduta de outrem das vivências que correspondem para mim às mesmas condutas implica de um lado que o outro é tomado como ego, isto é, como sujeito apto a experimentar vivências para si e, por outro lado, que eu mesmo me apreenda como visto “de fora”, isto é, como um outro para um alter ego, uma vez que tais “condutas”, às quais assimilo as condutas do outro que eu observo, como sujeito só posso vivê-las e não apreendê-las do exterior. Existe portanto uma condição fundamental para que a compreensão do outro seja possível: é que eu mesmo não sou para mim uma pura transparência. Esse ponto foi estabelecido a propósito do corpo. Se, com efeito, se insiste em colocar a relação com outrem no nível das consciências transcendentais, é claro que só se pode se instituir entre essas consciências constituintes um jogo de destituição ou de degradação recíprocos. A análise sartriana do para-outro, feita essencialmente em termos de consciência, detém-se no que Merleau-Ponty denomina “o ridículo de um solipsismo entre vários”. O outro, escreve Sartre, como olhar é apenas isto: minha transcendência transcendida” (O Ser e o Nada, 321). A presença de outro traduz-se por minha vergonha, meu medo, meu orgulho e minhas relações com outrem podem ser tão-somente no modo destitutivo: amor, linguagem, masoquismo, indiferença desejo, ódio, sadismo. Mas a correção feita por Merleau-Ponty a essa interpretação nos reorienta na problemática do outro: “na verdade o olhar do outro não nos transforma em objeto a não ser que ambos nos retiremos no fundo de nossa natureza pensante, nos convertamos em olhar inumano, se cada um sentir suas ações não como retomadas e compreendidas mas observadas como as de um inseto” (Fenomenologia da Percepção, 414). É necessário descer abaixo do pensamento do outro e reencontrar a possibilidade de uma relação originária de compreensão, sem o que o sentimento de solidão e o conceito de solipsismo não teriam igualmente nenhum sentido para nós. Deve-se por conseguinte descobrir anteriormente a toda separação uma coexistência do ego e do outro num “mundo” intersubjetivo e em cujo solo o próprio social ganha sentido.
É precisamente o que nos ensina a psicologia da criança que é já uma sociologia. A partir de seis meses a experiência do próprio corpo da criança se desenvolve. Wallon, ao concluir suas observações, nota que é impossível distinguir na criança um conhecimento introceptivo (coenestésico) de seu corpo e um conhecimento “de fera” (por exemplo pela imagem num espelho, ou imagem especular); o visual e o introceptivo são indistintos, há um “transitivismo” pelo qual a criança se identifica com a imagem do espelho: a criança acredita ao mesmo tempo que está ali onde se sente e ali onde se vê. Assim também quando se trata do corpo de outrem, a criança se identifica com o outro: o ego e o alter são indistintos; Wallon caracteriza esse período pela expressão “sociabilidade incontinente” e Merleau-Ponty, retomando-a e prolongando-a designa-a por sociabilidade sincrética. Essa indistinção, essa experiência de um inter-mundo onde não há perspectivas egológicas, se exprime na própria linguagem, bem depois que a redução da imagem especular e uma “imagem” sem realidade foi operada. “As primeiras palavras-frases da criança visam condutas e ações que pertencem tanto ao outro como a si mesma” (ibid.). A apreensão de sua própria subjetividade enquanto perspectiva absolutamente original só aparece tardiamente e de qualquer forma o eu só é empregado quando a criança compreende “que o você pode dirigir-se tanto a ela mesma como a outrem” e que todos podem dizer “eu” (observação de Guillaume). Por ocasião da crise dos três anos Wallon observa alguns comportamentos que caracterizam a superação do “transitivismo”: vontade de agir “completamente só”, inibição diante do olhar de outrem, egocentrismo, duplicidade, atitudes de transação (especialmente no dar e tirar brinquedos). Wallon demonstra que, entretanto, o transitivismo não é suprimido, que se prolonga além desse distanciamento do outro; e é por isso que Merleau-Ponty se opõe à tese de Piaget, segundo a qual por volta de doze anos a criança efetuaria o cogito “alcançando as verdades do racionalismo”. “É realmente necessário que as crianças tenham razão contra os adultos ou contra Piaget, e que os pensamentos bárbaros da primeira idade permaneçam como uma aquisição indispensável, inferiores as da idade adulta, se é preciso haver para o adulto um mundo único e intersubjetivo” (Fenomenologia da Percepção, 488). Merleau-Ponty mostra que, na realidade o amor por exemplo, constitui uma expressão desse estado de indivisão com o outro e que o transitivismo não é abolido no adulto, pelo menos na ordem dos sentimentos. Vê-se a diferença que há entre isso e as conclusões de Sartre. “A essência das relações entre consciências não é o Mitsein, é o conflito”, escrevia o autor de O Ser e o Nada (502). Uma análise fenomenológica parece mostrar, ao contrário, tendo por base as ciências humanas, que a ambiguidade da relação com o outro, tal como a colocamos a título de problema teórico, ganha sentido numa gênese do outro para mim: os sentidos do outro para mim são sedimentados numa história que não é primeiro a minha, mas uma história de vários, uma transitividade, e na qual meu ponto de vista se distingue lentamente (através do conflito, evidentemente) do inter-mundo originário. Se existe social para mim é porque eu sou originariamente social, e as significações que eu” projeto inevitavelmente sobre as condutas de outrem, se eu sei que as compreendo ou que devo compreendê-las, é que o outro e eu fomos e continuamos a estar compreendidos numa rede única de condutas e num fluxo comum de intencionalidades. [Lyotard]