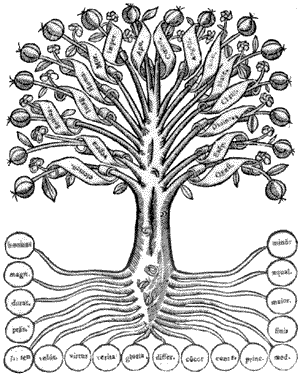(in. Historicity; fr. Historicité, al. Geschichtlichkeit; it. Storicità).
1. O modo de ser do mundo histórico ou de qualquer realidade histórica.
2. A existência de fato no passado; neste sentido se diz, p. ex., “a historicidade de Jesus”, para
indicar que Jesus foi uma pessoa real, não um mito.
3. A importância histórica que, às vezes, se atribui também a fatos presentes e contemporâneos. (Abbagnano)
Característica do que é histórico. — O problema metafísico da historicidade é saber por que o homem nasce, desenvolve-se e morre. Bergson o havia ligado ao problema da vida universal, que se expande e cinde em indivíduos, como a vida de uma árvore expande-se nas folhas votadas a desaparecer em cada estação, desenvolvendo-se além delas. Heidegger o identificara ao problema da finitude do homem, e toda a sua filosofia consiste em compreender a conduta humana a partir de sua historicidade primitiva, do sentimento de uma existência passageira e votada à morte. (Larousse)
A objetivação da vida é a primeira característica da estrutura do mundo histórico, devendo-se atentar para o fato de que o espírito objetivo de Dilthey não é, como para Hegel, a manifestação de uma Razão absoluta, mas é o produto da atividade de homens históricos. Tudo saiu da atividade espiritual dos homens e, portanto, diz Dilthey, tudo é histórico. “Da distribuição das árvores em um parque à ordem das casas em uma rua, do instrumento do trabalhador manual à sentença em tribunal, tudo em torno de nós, a todo momento, ocorre historicamente: aquilo que o espírito emite hoje da sua característica na própria manifestação de vida, amanhã, quando estiver adiante, será história. Enquanto o tempo passa, nós estamos cercados pelas ruínas de Roma, por catedrais, por castelos. A história não é nada de separado da vida, nada de distinto do presente por sua distância temporal”.
A segunda característica fundamental do mundo humano é a que Diltley chama de “conexão dinâmica”, que se distingue da conexão causal da natureza enquanto produz valores e realiza objetivos. O indivíduo, as instituições, as civilizações e as épocas históricas são conexões dinâmicas. E, como o indivíduo, da mesma forma todo sistema de cultura e toda comunidade tem o seu próprio centro em si mesmo. E essa “autocentralidade”, intrínseca a toda unidade histórica, faz com que essas unidades históricas (os sistemas de cultura, os sistemas de organização social, as épocas históricas) se caracterizam por horizonte fechado, que torna as diversas histórias irredutíveis, tornando-as singularmente compreensíveis só sob a condição de que possamos compreender os valores e os objetivos particulares que as tipificam.
O homem, conclui Dilthey, é um ser histórico. E históricos são todos os seus produtos culturais, inclusive a filosofia. É bem verdade que, na história do pensamento, Dilthey distingue três formas típicas de intuição do mundo ou filosofias: 1) o primeiro tipo é o naturalismo materialista, que se baseia no conceito de causa (Demócrito, Lucrécio, Epicuro, Hobbes, os enciclopedistas, Comte);
2) o segundo tipo é o idealismo objetivo, para o qual toda a realidade é dominada por princípio interior (Heráclito, os estoicos, Spinoza, Leibniz, Shaftesbury, Goethe, Schelling, Schleiermacher, Hegel);
3) o terceiro tipo é o idealismo da liberdade, que distingue o espírito da natureza (Platão, a filosofia helenístico-romana, Cícero, a filosofia cristã, Kant, Fichte, Maine de Biran).
Entretanto, segundo Dilthey, é ilegítima a pretensão da metafísica de apresentar explicação absoluta e global da realidade. As metafísicas também são produtos históricos. E uma função do filósofo consciente é a de dar vida a uma “filosofia da filosofia”, entendida como exame crítico das possibilidades e dos limites da filosofia. E é assim que a razão histórica se transforma em crítica “histórica” da razão. Não existem filosofias que valham sub specie aeternitatis: “não há valores que valham em todas as nações” e “sem dúvida a relatividade de todo fenômeno histórico está ligada ao fato de que ele é finito”.
Mas, afirma Dilthey, o importante é que “a consciência histórica da finitude de todo fenômeno histórico, de toda situação humana ou social, a consciência da relatividade de toda forma de fé, é o último passo no sentido da libertação do homem. Através dele, o homem alcança a soberania de atribuir a cada Erlebnis o seu conteúdo e de entregar-se a ele completamente, com franqueza, sem vínculo de nenhum sistema filosófico ou religioso. A vida se liberta do conhecimento conceituai e o espírito torna-se soberano diante das teias de aranha do pensamento dogmático”.
“Toda beleza, toda santidade, todo sacrifício, revividos e interpretados, descerram perspectivas que revelam uma realidade. E, da mesma forma, atribuímos a tudo o que existe de mau, de temível e de feio em nós um lugar no mundo, urna realidade própria, que deve ser justificada na conexão do mundo: é algo sobre o qual não podemos nos iludir. E, diante da relatividade, faz-se valer a continuidade da força criadora como o elemento histórico essencial (…). Como as letras de uma palavra, a vida e a história têm sentido. E, como uma partícula ou uma conjugação, na vida e na história há momentos sintáticos que possuem significado (…). Nós não atribuímos à vida nenhum sentido do mundo. Nós estamos abertos à possibilidade de que o sentido e o significado surjam somente no homem e na história. Mas não no homem individual e sim no homem histórico. Porque o homem é um ser histórico (…)”. [Reale]
Que significa então a temporalidade da consciência? Retomamos a descrição das” coisas em si mesmas”, isto é, a consciência do tempo. Eu me acho preso num campo de presenças (este papel, esta mesa, esta manhã); este campo se prolonga em horizonte de retenções (tenha ainda “em mãos” o início desta manhã) e se projeta em horizonte de protenções (esta manhã termina por uma refeição). Ora, estes horizontes são móveis: este momento que era presente e por conseguinte que não era colocado como tal, começa a perfilar-se no horizonte de meu campo de presenças; eu o apreendo como passado recente, eu não estou separado dele pois o reconheço. Depois ele se distancia ainda mais, eu não o apreendo imediatamente, necessito para tomá-lo em minhas mãos de uma nova espessura. Merleau-Ponty (Fenomenologia da Percepção, A77) se inspira em Husserl (Zeibewuszfsein, 23) para o essencial do esquema abaixo, em que a linha horizontal exprime a série dos agora, as linhas oblíquas os esboços desses mesmos agora vistos de um agora ulterior, as linhas verticais os esboços sucessivos de um agora. “O tempo não é uma linha, mas uma rede de intencionalidades.” Quando de A passo para B, tenho nas mãos A através de A e assim por diante. Dir-se-á que o problema foi apenas afastado: tratava-se de explicar a unidade do fluxo das vivências; é preciso portanto estabelecer aqui a unidade vertical de A’ com A, depois de A” com A’ e A etc. Substitui-se a questão da unidade de B com A pelo problema da unidade de A’ com A. É neste ponto que Merleau-Ponty, posteriormente a Husserl e Heidegger, estabelece uma distinção fundamental para nosso problema da consciência histórica: na lembrança propositada e na evocação voluntária de um passado longínquo, verificam-se efetivamente sínteses de identificação que me permitem, por exemplo, dependurar esfa alegria em seu tempo de proveniência, isto é, localizá-la. Mas mesmo essa operação intelectual, que é a do historiador, pressupõe uma unidade natural e primordial pela qual é o próprio A que atinjo em A’. Dir-se-á que A é alterado por A” e que a memória transforma aquilo de que ela é memória, proposição banal em psicologia. A isto Husserl responde que esse ceticismo, básico no historicismo, nega-se a si mesmo como ceticismo, pois o sentido da alteração implica que se sabe de alguma maneira o que íoi alterado, isto é, A em pessoa. Há, portanto, como que uma síntese passiva de A com seus esquemas, supondo-se que esse termo não explica a unidade temporal, mas permite colocar o problema corretamente.

É preciso ainda notar que quando B se torna C, B se torna também B’ e que simultaneamente A já caído em A’ cai em A”. Em outras palavras, todo o meu tempo se move. O isto vindouro, que eu só podia apreender através dos esquemas opacos, acaba vindo a mim em pessoa, C2 “desce” em C1, depois dá-se em C no meu campo de presença e como eu medito sobre tal presença C já se esboça para mim como “não mais” na medida em que já minha presença está em D. Ora, se a totalidade é dada de uma vez, isto significa que não existe problema verdadeiro de unificação posterior à série das vivências. Heidegger mostra que essa forma de colocar o problema (síntese a posteriori de uma multiplicidade de. estados) caracteriza a existência, que é existência “perdida no Se”. A realidade humana (Dasein), diz ele, não se perde de maneira a dever recolher-se de algum modo posteriormente, fora da distração, nem de maneira a dever inventar de cada peça uma unidade que forme coerência e que abranja” (Sein und Zeit, loa cif., 198). “A temporalidade, escreve adiante, se temporaliza como futuro que vai ao passado vindo para o presente” (citado por Merleau-Ponty, 481). Não há necessidade pois de explicar a unidade do tempo interior; cada agora retoma a presença de um “não mais” que ele impele para o passado e antecipa a presença de um “ainda não” que para lá o impelirá; o presente não é fechado, ele se transcende em direção a um futuro e em direção a um passado, meu agora não é nunca, como diz Heidegger, uma in-sistência, um ser contido num mundo, mas uma ex-sistência ou ainda uma ek-stase e é finalmente pelo fato de eu não ser uma intencionalidade aberta que eu sou uma temporalidade.
Antes de passar para o problema da ciência histórica, impõe-se uma observação sobre essa proposição: significaria que o tempo é subjetivo, e que não há tempo objetivo? Pode-se responder sim e não simultaneamente a essa indagação: sim o tempo é subjetivo, porque o tempo tem um sentido e se o tem é porque nós somos tempo, assim como o mundo só tem sentido para nós porque somos mundo por nosso corpo etc.; e esta é exatamente uma das principais lições da fenomenologia. Mas, simultaneamente, o tempo é objetivo já que nós o constituímos apenas pelo ato de um pensamento que, por sua vez, seria isento dele; o tempo, assim como o mundo, é sempre um já para a consciência, motivo pelo qual o tempo, tal como o mundo, não é transparente para nós; como precisamos explorá-lo, temos de “percorrer” o tempo, isto é, desenvolver nossa temporalidade desenvolvendo-nos a nós mesmos: não somos subjetividades fechadas sobre si mesmas, cuja essência seria definida ou definível a priori, em suma, mônadas para as quais o futuro seria um acidente monstruoso e inexplicável; mas tornamo-nos aquilo que somos e somos aquilo em que nos tornamos, não possuímos significação atribuída uma vez por todas, mas a significação em curso, e é por isso que nosso futuro é relativamente indeterminado, por isso que nosso comportamento é relativamente imprevisível para o psicólogo, por isso que somos livres. [Lyotard]