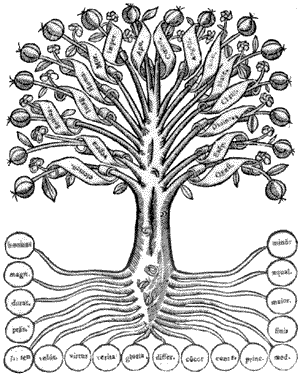(pal. lat. que signif. eu), expressão latina que designa, em psicanálise, o “eu” como equilíbrio entre o “super-ego” (a consciência social) e o “id” (as tendências físicas, os desejos individuais). Se o “super-ego” e o “id” são abstrações, o ego corresponde à pessoa real, a uma forma particular de relação do sujeito com o mundo e com os outros homens. (Larousse)
Barbuy
Em notável escrito sobre o pensamento de Kierkegaard, Barbuy define o “ego” usando a própria linguagem deste pensador:
O ego é primeiramente uma síntese consciente de infinito e de finito, que se relaciona consigo mesma e cujo fim é tornar-se ela mesma, o que só pode fazer relacionando-se com Deus, que a colocou como síntese. Salvar-se é tornar-se si mesmo em suas relações com Deus. Este tornar-se si mesmo é certamente um vir-a-ser concreto, que não se pode cumprir nem só num, nem só noutro dos termos da antítese, senão se estabelece a desarmonia, o desespero, pela negação do finito, ou do infinito. O ego deve realizar em si a síntese do finito e do infinito; a evolução consiste pois em afastar-se indefinidamente em si mesmo numa infinitização, mas voltando ao mesmo tempo indefinidamente a si mesmo numa finitização; e enquanto não chega a realizar-se, o ego não é ele mesmo; e não ser si mesmo é desespero.
( Heraldo Barbuy )
Michel Henry
Do Idêntico em cada um – da autodoação da Vida fenomenológica absoluta na Ipseidade essencial do Primeiro Si e, assim, de todo Si concebível – resulta o segundo aspecto da teoria cristã da relação com o outro. Na perspectiva que será a da filosofia moderna, mas também nas representações mais habituais deste fenômeno, a relação com outro é pensada a partir de um primeiro termo que é o próprio ego, mais precisamente este ego que eu sou. É por isso que este primeiro termo aparece como a origem ou o centro a partir do qual a experiência de outro se desdobra. Trata-se de compreender como o ego que eu próprio sou pode atingir outro, o alter ego, e entrar assim em “relação” com ele. Não é possível expor aqui de modo sistemático as razões pelas quais todas as teorias que tomam o ego como ponto de partida de sua relação com o outro fracassaram – a rede de paralogismos em que elas se encerram. Contentar-nos-emos com as seguintes breves observações.
O primeiro paralogismo das teorizações da experiência do outro inevitavelmente compreendido como o outro ego é a pressuposição [353] do próprio ego. Que haja um ego, tanto o outro quanto o meu, é o que é evidente, a ponto de que a própria possibilidade de algo como um ego, a possibilidade de um Si e de uma Ipseidade em geral, não aparece jamais como um problema. Assim, toda teoria da experiência do outro é minada por uma lacuna essencial que torna a priori ininteligível tudo o que ela crê dizer – muito mais, que lhe apaga até a existência. É precisamente a radicalidade da teoria cristã de colocar no fundamento da relação com o outro sua possibilidade mais incontornável, a saber, a própria existência dos egos entre os quais esta relação vai desdobrar-se. Não sua simples existência, para dizer a verdade, mas sua possibilidade precisamente, a possibilidade de algo como um ego qualquer, o meu ou o do outro. E esta possibilidade é a de um Si transcendental que tem sua ipseidade da Ipseidade da Vida absoluta – eis a definição cristã do homem como “Filho de Deus” e como “Filho no Filho”.
Mas, se o ego não é possível senão gerado na Ipseidade da Vida fenomenológica absoluta e no Si originário desta Ipseidade, então os próprios termos da relação com o outro e ao mesmo tempo esta própria relação se encontram alteradas. Enquanto for compreendido ingenuamente como repousando sobre si e bastando-se a si mesmo, o ego pode, com efeito, fornecer tanto o ponto de partida da relação com o outro quanto o termo desta: o próprio outro, o outro ego. Mas, uma vez que a possibilidade do ego aparece como um problema, uma vez que se dá a evidência de que nenhum ego jamais se trouxe a si mesmo à condição que é a sua e que esta impotência radical concerne tanto ao outro ego quanto ao meu, então é a incapacidade do ego para constituir tanto o ponto de partida quanto o ponto de chegada da relação com o outro que se descobre de repente, e é o dado habitual da questão desta relação que naufraga. A relação entre os egos cede lugar à relação entre os Filhos. (Michel Henry, MHSV)
Nossos gestos não traem apenas sentimentos elementares; são portadores de noções mais gerais e mais essenciais. Fixam os limites de uma espécie de agrimensura física e levantam barreiras à nossa capacidade de expressão, construindo em torno de nós o quadro rigoroso das três direções do espaço, onde aprendemos a situar nossa própria estatura. Trazemos, aliás, essas direções inscritas em nós mesmos, incorporadas nos canais semicirculares de nosso ouvido interno, associadas ao estetociste que comanda nosso equilíbrio físico e mental. Esse registro cósmico, que transfigura o eu mais modesto, confere a cada um de nós o papel de “microcosmo”, platônico de padrão universal, posição central cuja importância, como princípio e origem, soube Schelling mostrar em sua época (F.G.J. Schelling, Du moi comme principe da la philosophie). Nossos gestos manifestam a autoridade desse ego, do qual a imagística do cinema interior constitui, no dizer de Blake, a própria vida do nosso espírito. A riqueza de nossas lembranças e de nossas experiências eleva cada um de nós à função de poeta criador de uma cultura vivida, nutrida de sensações experimentadas e de signos aceitos, recebidos de nossos ancestrais e transmitidos às gerações futuras.
Esse eu íntimo, centro de nossos atos, sujeito e objeto de nosso conhecimento intuitivo, mergulha-nos em tranquila e provisória autoridade. As leis da perspectiva, que repetem em relação a nós tudo o que daí se afasta, contribuem para alimentar a lisongeira dominação de que nos persuade nosso egotismo. Nosso narcisismo nos estimula a integrar tudo o que vemos como um reflexo de nosso eu no espelho das coisas, a considerar todo objeto como dependente de nós, a emprestar-lhe vida e consciência, a atribuir no sa alma a tudo o que tem corpo.
Essa “empatia projetiva”, como dissemos, anima a nossos olhos o espetáculo do universo e lhe insufla uma vitalidade quase orgânica que explica o animismo do pensamento primitivo. A auto-identificação que o homem descobre no mundo chega a transportar, como nos mostra Kapp, a forma e a função de nossos órgãos, não apenas para os instrumentos que não passam de seu prolongamento, mas para os objetos naturais ou saídos de nossa indústria.
Não é sem razão que Protágoras proclamava que o homem é a medida de todas as coisas. Uma tendência invencível mantém sempre em ação esse antropomorfismo original que permanece como princípio de toda poesia e de toda linguagem. A morfologia do nosso corpo forneceu os primeiros arquétipos de nossa ideologia e nossas primeiras unidades de medida: a braça, a côdea, o palmo, a polegada, o pé e o passo, esse passo que mede também o tempo, pois obedece ao ritmo respiratório. O primeiro instrumento do homem foi seu corpo e, acima de tudo, sua mão, que é o modelo de suas ferramentas posteriores, “o instrumento dos instrumentos”, no dizer de Aristóteles.
Depois de dominar sua posição vertical, o primata que ainda éramos pôde captar e modelar com sua mão liberta a matéria de sua indústria. Mas, dizendo que o homem possui mão, restringimos singularmente seu papel, pois esta mão o prolonga por inteiro e um terço de seu cérebro lhe é consagrado. Graças a uma sensibilidade superior à das outras partes do corpo, a mão tornou-se o órgão detector por excelência, produtor de objetos, operador de sinais e em si mesma instrumento polivalente. A palavra signo, aliás, vem do latim signum que tem a mesma raiz do verbo secare = cortar, de onde a palavra segar (francês, scier). Um signo é aquilo que foi inciso pela mão na casca de árvore. O homem deixa em tudo o que faz ou manipula a marca de seus dedos, da qual se conhece o caráter revelador. As ligações privilegiadas que unem as áreas cerebrais da motricidade e as da linguagem articulada permitem á mão manifestar o homem que fala e que pensa, ao lado do homem que age. O estágio do fazer é apenas uma transição da função do dizer, e até etimologicamente nas línguas indo-europeias a palavra dizer deriva de uma raiz que significa mostrar com o dedo.
Entretanto, mesmo depois de ter conquistado o domínio de seu pensamento abstrato, a visão de seu universo não se tornou menos presa a uma codificação dos movimentos de sua mão, inscrita no quadro intransponível das três dimensões do espaço. (Benoist)