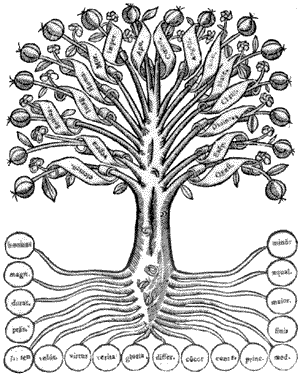A mais importante das obras de Kant (l.a edição em 1781; 2.a edição, modificada, em 1787). O autor enuncia um novo programa filosófico, que é, ainda hoje, o da filosofia moderna: a filosofia não serve, como a ciência, para nos fazer conhecer o mundo; ela nos deve revelar o fundamento da ciência no espírito humano. A obra se divide em: “estética transcendental”, ou teoria das intuições (espaço e tempo); “analítica transcendental”, ou teoria dos conceitos ou das formas de nosso conhecimento do mundo; “dialética transcendental”, ou teoria do que nós não podemos conhecer (a totalidade do mundo, a imortalidade da alma e a existência de Deus). A Crítica define portanto as fontes, as formas e os limites de todo conhecimento humano em geral. (V. Kant.) (Larousse)
O empirismo como que esvaziara o espírito. Kant torna a enchê-lo e o enche de si mesmo, se assim se pode dizer. Faz dele, conforme a sua própria expressão e desta vez sem imagem, a “fôrma” em que é modelada e ordenada a matéria do fenômeno. Nele coloca representações e conhecimentos a priori, isto é, conhecimentos em que “nada pode ser atribuído aos objetos senão o que o sujeito pensante tira de si mesmo”. Como conhecer o objeto se tudo me vem dele e unicamente dele, e como se gravará na minha inteligência? Tudo se explicará com facilidade se ele encontrar nesta inteligência um dispositivo em que se enquadre naturalmente. Destarte — e nisto consiste o essencial do kantismo especulativo e a sua grande ousadia — construirmos de acordo com o modo por que somos construídos, de acordo com a estrutura e os dados do nosso espírito, e impomos aos objetos as nossas intuições primeiras e as nossas categorias: tempo, espaço e o mais que segue. Nada existe no espírito que_ não tenha estado antes nos sentidos, exceto o próprio espírito, dizia Leibniz. Kant vai mais além: procede ao inventário do espírito e apresenta-nos a sua geografia.
Tomemos como exemplo as noções primitivas e fundamentais de tempo e espaço. Julgam que elas nos venham dos objetos que se acham no espaço e no tempo? Absolutamente; não é porque percorramos espaços ou momentos que formamos o conceito de espaço ou de tempo: como seria isso possível? “O espaço”, diz Kant, “nada mais é senão a forma de todos os fenômenos dos sentidos exteriores, isto é, a condição subjetiva da sensibilidade sem a qual não nos é possível uma intuição exterior…” Quanto ao tempo, “não é senão a forma do sentido externo, isto é, da intuição de nós mesmos e do nosso estado interior…”. Que significa isto, senão que espaço e tempo são apenas modos da nossa sensibilidade e não existem fora de nós?
Eis-nos pois reintegrados numa possibilidade, numa realidade mesmo do conhecimento. Mas atentemos em certas consequências bastante estranhas. O que assim atingimos, o que assim se ordena no nosso espírito, é apenas o fenômeno, isto é, a aparência — e aqui os sentidos reassumem, com a sua função, a sua tirania também. O que existe por trás dessa aparência e a constitui, a “coisa em si”, nos escapa. A razão especulativa procede da sensibilidade e opera sobre o sensível: o supra-sensível é vedado. Discerne o condicionado, mas nenhum poder tem sobre o incondicionado.
Donde a tentação, para ela, de se exorbitar indebitamente — tentação a que sucumbe. Pretende o impossível, ou melhor, deixa-se arrastar ao impossível e, legislando no vácuo, cai no paralogismo e na antinomia. Prescreve as suas leis por necessidade, à revelia da experiência ou antes que a experiência intervenha, e conclui como se tivesse sido determinada por ela, Há assim raciocínios, diz Kant, “que não contêm premissas empíricas e por meio dos quais concluímos de alguma coisa que conhecemos para outra coisa de que não temos nenhum conceito e a que, no entanto, atribuímos realidade objetiva por uma inevitável aparência”. É deste modo que tiramos deduções abusivas do Cogito cartesiano e nos equivocamos perigosamente a propósito de nós mesmos e da nossa alma, sobre a noção de substância.
De maneira mais especiosa ainda, esse malabarismo da razão pura nos conduz às suas antinomias. Em prosseguimento, e com igual rigor, ela nos prova o pró e o contra: que o mundo teve e não teve um começo, que tem e não tem limite no tempo e no espaço; que só existem coisas simples e que não existe nada de simples no mundo; que há uma causalidade livre e que não há liberdade; que é indispensável um ser necessário e que tal ser não existe…
Somos assim solicitados por sofismas deslumbrantes e a fantasmagoria em que se perde a razão procede dessa combinação de empirismo e apriorismo. Mas há ainda outra fonte desses abusos e desnorteamentos.
A razão forma duas espécies de juízos: os analíticos e os sintéticos. Os primeiros, que se poderiam chamar também explicativos, não fazem senão desenvolver uma identidade ou isolar pela análise os elementos que eles contêm; não acrescentam nada e não permitem passar a uma realidade fora deles e da razão que os formula; assim, quando digo que um corpo é extenso, tiro minha afirmação do próprio conceito de corpo e fico encerrado neste conceito. Pelo juízo da segunda espécie, ao contrário, o juízo sintético ou extensivo, ultrapassamos o conteúdo do conceito e descobrimos no sujeito um predicado que não estava naturalmente contido nele. É o que faço, por exemplo, quando digo que um corpo é pesado. Neste último caso percebo uma realidade mova, no outro permaneço dentro de uma realidade dada; o erro virá quando eu pretender transferi-la para além deste dado, para além daquilo que a deu.
Apliquemos agora esta distinção às provas da existência de Deus e em especial à prova ontológica, à prova cartesiana. Que entendemos por esta prova? Que, sendo Deus o ser perfeito e tal que não pode haver outro acima dele, Deus não pode deixar de existir. Mas que fazemos na realidade ao raciocinar assim? Passamos de uma ideia de existência concebida como uma necessidade da nossa razão e que não sai dessa razão, que é fruto unicamente do exercício dessa razão, a uma existência absoluta, real e fora da nossa razão; não percebemos que nos limitamos assim a formar um desses juízos analíticos pelos quais não podemos acrescentar nada nem a nós nem tampouco ao nosso conhecimento. Não é de modo algum contraditório negar a existência de um ser necessário, porquanto a não-existência suprime os seus predicados e com eles a sua contradição. “A onipotência não pode ser suprimida de momento que supomos uma divindade, isto é, um ser infinito com cujo conceito se identifica esse atributo. Mas se dissermos: Deus não existe, nem a onipotência nem qualquer outro dos seus predicados será dado, pois que foram todos suprimidos com o sujeito, e não há nesse pensamento a menor contradição.”
Significa isto, no fundo, que Deus não existe forçosamente pelo fato de o concebermos como necessário, que coisa alguma existe forçosamente por esse motivo e, de modo mais geral, que é por puro abuso que passamos da nossa ideia do ser ao ser real. Entretanto, se há ser, é preciso que o ser exista — o que vem a ser um outro aspecto da prova ontológica. Mas aqui nos afastamos de Kant e do nosso assunto atual.
Seria impossível entrar nos pormenores desta dialética ou desta análise que é uma doutrina transcendental dos elementos, espaço, tempo e categorias, dos conceitos e dos juízos. Temos de nos contentar com reter-lhe o espírito. A especulação kantiana, enquanto especulação puramente racional, é um idealismo e um cepticismo, mas ambas estas coisas afetadas de um sinal positivo. A razão pura não apreende senão fenômenos, encadeia unicamente fenômenos e só é capaz de ordená-los depois de tê-los reduzido a ideias. A realidade última, a realidade verdadeira, a coisa em si escapa-lhe e ela não pode sair deste mundo em que se exerce, que cria com o seu exercício, fazendo-o à sua imagem e submetendo-o às suas formas e às suas leis. Ela não é ilusão nem se move no ilusório, mas permanece no fenomenal e nele se encerra e se enclausura completamente, sem poder sair. É por uma operação de outra espécie — e singularmente audaciosa — que vai encontrar uma porta de saída. [Truc]