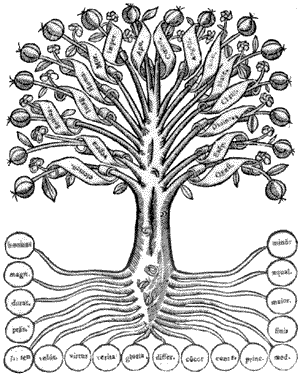Na complexidade de nossos relacionamentos com o outro, a comunicação se apresenta como uma das estruturas constituintes fundamentais. Aqui não procuraremos definir o que seja a “comunicação”, mas sim tentaremos mostrá-la através dos problemas que habitualmente ligamos ao termo. Desta forma pretende-se revelar algumas das constituições fundamentais de nossa existência.
O ponto de partida é a análise heideggeriana. Heidegger mostra como o ser-no-mundo é essencialmente um ser-com (v. solipsismo). Desde que nós existimos, existimos dentro de um mundo. Isto significa: existencialmente, não tem sentido falar-se do “homem” “isolado”, ou tentarmos a compreensão do “mundo” como algo independente de nós (embora em certas disciplinas tanto um isolamento quanto o outro possam ser feitos). Existencialmente, o “eu” e o “mundo” são entidades que participam, irredutivelmente conjugadas, de um mesmo todo fundamental; mais especificamente, somos o ser que se descobre, factício, atirado dentro de um mundo, ora indiferente, ora maravilhoso, ora absurdo. A facticidade se origina em nossa finitude; estamos, existencialmente, sempre localizados em certo ponto do espaço, e nos vemos neste local através de toda uma historicidade nossa que “explica” de que forma, no tempo, atingimos este local de agora. Somos finitos no espaço e no tempo, e esta finitude se revela como uma polarização, como uma afirmativa do centro da existência em nós, ou seja, no local onde nos situamos agora. Em consequência desta polarização existencial, o espaço e o tempo vão ser quotidianamente compreendidos em relação à nossa situação existencial. A casa da tia “está a vinte metros daqui”; a formatura a que aspiro “será em cinco anos”. No entanto, existe uma maneira — se bem que insegura e falha — de transcendermos esta localização radical. É através da linguagem. A linguagem traz a mim a presença de todas as regiões do espaço, e de todas as épocas do passado e do futuro. E simultaneamente à linguagem compreenderemos o problema da comunicação.
A linguagem como “revelação”. Para Heidegger, a linguagem é uma das manifestações da compreensão (Verstehen), ou seja, da nossa possibilidade de encontrar no mundo o “sentido”. O sentido se revela no fato de podermos “conhecer” a utilidade do martelo ou da caneta, de podermos “compreender” as coisas à nossa volta, sabendo-lhes o uso “apropriado”. Este conhecimento “prévio”, existencialmente a priori do “sentido” utilitário das coisas que participam em nosso mundo, fará com que Heidegger nos caracterize como a totalidade dos possíveis a nós abertos. Especificamente, como modo de apresentação desta abertura, existe a proposição. Heidegger retoma de Aristóteles o conceito do lagos (da linguagem, da razão que se pode verbalizar) como apophansis, como elucidação ou mostração. “Reafirmamos o sentido originário de logos como apophansis: deixar ver o ente como ele é em si mesmo. Na proposição ‘o martelo é muito pesado’, não se mostrou à vista nenhum “sentido”, mas sim um ente como ele é [in der Weisen] em sua disponibilidade [em sua possibilidade de ser utilizado] . E também mesmo se este ente não está no momento à mão ou à vista, o que se mostra na proposição é o próprio ente, e não uma simples imagem, um “puro imaginado” ou um fundamento psíquico da proposição”. Heidegger evita o corte entre um “sujeito” e um “objeto” recusando-se a compreender o sentido de uma proposição como uma “imagem mental”. Muito pelo contrário: a proposição nem sequer se refere ao mundo;” ela o elucida, retira-lhe do esquecimento ou do desconhecido uma sua possibilidade. Postular-se o sentido da proposição através das imagens mentais implicará, eventualmente, na conclusão (existencialmente) falsa de que toda comunicação é impossível, por serem “privadas” e “pessoais” as imagens psíquicas de nossa fantasia. Heidegger encontra a linguagem como algo fundamentalmente ligado à “exterioridade”, ao mundo; como algo inter-pessoal, e revelador do lugar e do tempo onde temos nossa existência.
Como a visão da linguagem sendo uma possibilidade “comum” e “exterior” é essencialmente importante para o prosseguimento da presente análise, faremos um excurso que mostra de que modo, existencialmente, uma teoria das ciências matemáticas poderia ser desenvolvida. Costuma-se compreender a matemática vagamente a “ciência do pensamento puro”, ou, de maneira mais precisa, a “ciência do funcionamento sem inibições dos circuitos cerebrais”. A matemática seria então uma espécie de teoria sem objeto definido cuja única restrição estaria nas restrições biológico-estruturais dos neurônios do cérebro. Além da circularidade implícita a esta compreensão da matemática (a estrutura dos neurônios é formalizada pela álgebra de Boole ou por teorias dos circuitos lineares — ou seja, por teorias matemáticas), ela se torna incompreensível em seu papel nas outras ciências naturais, — pois como poderia uma ciência cujo objeto é “ideal” se “aplicar” ao “mundo concreto”? Tenta-se superar tal dificuldades explicando-se a física, por exemplo, como “ciência dos modelos abstraídos da realidade”. O referente da física seria, consequentemente) um “ideal” ou uma redução psicológica da “realidade” inacessível. E surge o problema do “corte” entre o sujeito e o objeto. No entanto, se a matemática — enquanto linguagem apofântica — puder ser reintegrada ao mundo, as dificuldades desaparecerão. A escola intuicionista da filosofia matemática tenta compreender esta ciência como a ciência de certos objetos perceptuais, ou seja, de certos objetos que existem no mundo; mais claramente, a matemática pode ser vista como a física da intuição imediata. A física, por sua vez é a matemática dos níveis da realidade de que são “abertos” instrumentalmente. Na mecânica introduzimos a noção de “massa”, que é uma ‘experiência’ revelada pela balança; no eletro-magnetismo, as noções de carga elétrica, campo magnético, e análogas — todas reveladas por uma instrumentalização de certa região das coisas. A matemática, enquanto linguagem, esclarece a abertura destas diversas regiões do mundo. Sirva este exemplo para que sintamos a força de uma compreensão existencial nas mais diversas regiões da linguagem. A linguagem como “comunicação”. Heidegger caracteriza a linguagem como o que mostra as coisas “como elas são”. No entanto, ao considerar a linguagem quotidiana, Heidegger nela aponta um dos “modos de decaimento” do Dasein. Em vez de “abrir” a realidade, a linguagem quotidiana oculta-a, esconde-a numa ambiguidade em que dúvidas sobre o sentido do que está sendo dito são “postas entre parênteses”, desde que a linguagem quotidiana é “compreendida por todo mundo”. Ao “todo mundo” (que Heidegger chama o “impessoal”, das Man) referir-se-ão todos os sentidos de todas as coisas e gestos que utilizamos ou realizamos quotidianamente: um grupo de “intelectuais” conversa usando uma sofisticada linguagem sobre “fenômeno”, “estrutura”, “essência”, “modo de produção”, e “esclarece” inúmeros problemas da realidade e do mundo usando esta sofisticada linguagem. Mas o sentido de termos como os por eles empregados nunca é esclarecido, ambiguamente permanecem como o “vocabulário comum” e “já sabido por todos”. Cientistas manipulam álgebras e equações no desenvolvimento de um formalismo para “explicar” alguns fenômenos; no entanto, é raro surgir alguém que, como Einstein, procura pensar a respeito de ideias “conhecidas por todo mundo” tais quais as noções de tempo e espaço. A esta ocultação quotidiana que a linguagem realiza, Heidegger chama tagarelice (das Gerede). A maior parte da comunicação quotidiana se faz com o uso da linguagem “tagarela”. Neste sen-uao, a comunicação é rigorosamente total, no quotidiano. A linguagem como desvelamento do “outro”. No entanto, a pergunta sobre a comunicação deseja compreender se é possível o emprego da; linguagem como linguagem apofântica, reveladora, aproximadora do “outro”. Referindo-se a Wilhelm von Humboldt, Heidegger mostra a correspondência entre os pronomes pessoais e os advérbios de lugar; ao “eu” se liga o “aqui”; ao “tu” o “ali”, e ao “ele” o “lá”. Esta relação — que em muitas linguagens se acha gramaticalmente determinada — se funda na mesma espacialização da existência que nos fez reconhecer a nós mesmos como uma “polaridade” dentro do mundo. Os advérbios correspondentes aos pronomes mostram a separação que há entre nós e os outros; em consequência, ontologicamente existe uma “distância” insuperável entre eu e os outros. Mas esclareçamos a natureza desta distância.
Quando estou conversando com duas pessoas, e uma delas vai embora, a conversa sofre um corte, uma suspensão. Na mesa do bar, quando fico cara a cara com alguém, depois de um longo “papo” “entre nós três”, o reatar da conversa exige um certo esforço, uma mudança de perspectiva. Digo: “mas como é mesmo que eu estava dizendo?”, ou faço algum comentário que me permita “reajustar” a ligação momentaneamente perdida. Por que? Porque quando eu sou-para-os-outros, quando sou para uma pluralidade de interlocutores, sou-o de maneira diversa do que sou para um único interlocutor. A conversa a dois é mais íntima, mais próxima; mais “pessoal”. O interlocutor plural é um ente abstrato; se, no meio de um grupo, começo uma discussão particular com alguém em especial, “me esqueço” dos outros à nossa volta. A conversa pessoal só pode se estabelecer quando há este esquecimento dos “outros”. Minha relação com o “você” é radicalmente diversa da minha relação com os “vocês”. E o desvelamento do outro só se pode dar na relação eu-tu.
A “persona” ou o “espaço pessoal. Por que? Compreendamos a persona, a máscara que utilizamos em nossas relações “com todo mundo”. O que esconde nossa roupa? Ela oculta “nossas vergonhas”. O que são as “vergonhas”? São o que “não se mostra em público”. Quem é o público? São os outros — a pluralidade o todo-mundo. O que difere em nossa relação com os outros e com o outro é que a persona funciona como intermediária do que somos para os outros. Vestindo-nos com a persona, somos-para-os-outros, isto é, nossa existência passa a ser regulada pela impessoalidade dos outros que se comunicam conosco — mas que antes de tudo nos observam, aos limitam e quase nos ameaçam (a “desmoralização” é o rompimento da persona, o que, na relação interpessoal, deve ser evitado a todo custo). A persona constitui, em linguagem psicoanalítica, o superego, ou, na terminologia dos analistas existenciais, o “modo de comunicação”. Com certo veneno, pode-se mostrar como há uma lógica e racionalidade no superego que inexiste na manifestação autêntica do eu. Ora, o que é a relação com o “você”? É a “relação íntima” — onde a qualificação do ato sexual sobretudo mostra o despojamento de todas as máscaras desejável em tal momento. Ou seja: a relação apofântica ao “tu” se processa sem o intermédio da persona. Melhor dizendo: os limites fenomenológicos da persona se encontram mais além do tu; a exterioridade pública está fora de minha ligação à pessoa amiga e querida. O que significa: embora haja, irredutivelmente, uma distância entre eu e você, esta distância pretende permitir que você se manifeste com a mesma autonomia existencial que tenho eu, de modo a garantir a autenticidade de nossa ligação, evitado que tanto você me absorva quanto que eu te absorva. Patologia da relação eu-você. São duas as formas mais importantes da patologia existencial da comunicação. Ambas, no entanto, se caracterizam por reduzirem o relacionamento ao “tu” a um relacionamento ao “vocês” impessoal. No primeiro exemplo, temos o caso do embusteiro — como, na novela muito recente, o ‘Beto Rockefeller’ — que nunca pode permitir um relacionamento eu-você porque a função da persona como mediadora entre o “vocês” e o “você” não se viu realizada. A persona, no caso, se transforma num espaço da culpa, num espaço de vergonhas escondidas, cuja exposição pública provocaria uma séria ameaça à personalidade, ao “eu”. A persona deve servir como um selecionador que individualiza os “vocês” indefinidos e escolhe aquele que será o “tu”; ela indica um caminho de fora, do que é público, para dentro, para o íntimo. Utilizando-a de modo diverso, caímos num estado neurótico .
Que é o segundo modo da patologia existencial da comunicação: a “estranheza” das muitas pessoas com que me relaciono diariamente em minha vida profissional. A multidão de estranhos indiferentes — e praticamente só os reconheço como “semelhantes” quando vejo o horror de um atropelamento na rua — entre si é um fenômeno evidentemente patológico. Mas, na verdade, para considerar esta alienação contemporânea não precisamos da sofisticação de uma análise existencial: basta que reconheçamos como a Terra é finita, e como os seus recursos são esgotáveis. Há gente demais no mundo. (v. ambiente, ciência, modelo, analítica do objeto, teoria). [Francisco Antônio Dória]