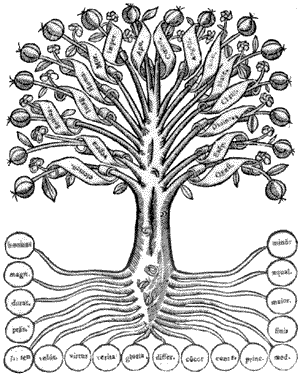(gr. thanatos; lat. mors; in. Death; fr. Mort; al. Tod; it. Morte).
A morte pode ser considerada 1) como falecimento, fato que ocorre na ordem das coisas naturais; 2) em sua relação específica com a existência humana.
1) Como falecimento, a morte é um fato natural como todos os outros e não tem significado específico para o homem. Existem procedimentos objetivos para a constatação ou verificação desse fato. Por exemplo: chama-se um médico para constatar o falecimento de uma pessoa; nesse caso, o falecimento é um fato atestável, de natureza biológica, que pode ter consequências determinadas, mas indiretas, para outras pessoas. Sempre que se fala em morte nesse sentido, como fato natural constatável com procedimentos apropriados, entende-se a morte como falecimento. O mesmo acontece quando se considera a morte como uma condição da economia geral da natureza viva, ou da circulação da vida ou da matéria e assim por diante. Nesse sentido, Marco Aurélio falava da igualdade dos homens perante a morte: “Alexandre da Macedônia e seu arrieiro, mortos, reduziram-se à mesma coisa: ou ambos são reabsorvidos nas razões seminais do mundo ou ambos são dispersos entre os átomos” (Recordações, VI, 24). No mesmo sentido, Shakespeare dizia: “Alexandre morreu, Alexandre foi sepultado, Alexandre voltou ao pó. O pó é terra e com a terra se faz argila; por que a argila em que ele se transformou não poderia vir a ser a tampa de um barril de cerveja?” (Hamlet, a. V, cena I). Em todos esses casos entende-se por morte o falecimento do ser vivo, qualquer que seja, sem referência específica ao ser humano. Perante a morte assim entendida, a única atitude filosófica possível é a expressa por Epicuro: “Quando nós estamos, a morte não está; quando a morte está, nós não estamos” (Dióg. L, 125). No mesmo sentido, Wittgenstein disse.- “A morte não é um acontecimento da vida: não se vive a morte” (Tractatus, 6.4311). E Sartre ressaltou a insignificância da morte: “A morte é um fato puro, como o nascimento; chega-nos do exterior e transforma-nos em exterioridade. No fundo, não se distingue de modo algum do nascimento, e é a identidade entre nascimento e morte que chamamos de facticidade” (L’être et le néant, 1955, p. 630). Entendida nesse sentido, a morte não concerne propriamente à existência humana. O contraste entre a morte assim entendida e a morte como ameaça iminente sobre a existência individual foi bem expresso por Léon Tolstoi no conto A morte de Ivan Iljitsch, no qual o protagonista, que reconhece como certa e válida a ideia genérica da morte, como falecimento, rebela-se contra a ameaça que a morte faz pairar sobre ele.
2) Em sua relação específica com a existência humana, a morte pode ser entendida: a) como início de um ciclo de vida; ti) como fim de um ciclo de vida; c) como possibilidade existencial.
a) A morte é entendida como início de um ciclo de vida por muitas doutrinas que admitem a imortalidade da alma. Para elas, a morte é o que Platão chamava de “separação entre a alma e o corpo” (Fed., 64 c). Com essa separação de fato, inicia-se o novo ciclo de vida da alma: seja ele entendido como reencarnação da alma em novo corpo, seja uma vida incorpórea. Plotino expressava essa concepção dizendo: “Se a vida e a alma existem depois da morte, a morte é um bem para a alma porque esta exerce melhor sua atividade sem o corpo. E, se com a morte a alma passa a fazer parte da Alma Universal, que mal pode haver para ela?” (Enn., I, 7, 3). Idêntico conceito de morte reaparece sempre que se considera a vida do homem sobre a terra como preparação ou aproximação de uma vida diferente, e quando se afirma a imortalidade impessoal da vida, como faz Schopenhauer; para ele a morte é comparável ao pôr-do-sol, que representa, ao mesmo tempo, o nascer do sol em outro lugar (Die Welt, I, § 65).
b) O conceito de morte como fim do ciclo de vida foi expresso de várias formas pelos filósofos. Marco Aurélio considerava-a como repouso ou cessação das preocupações da vida: conceito que ocorre frequentemente nas considerações da sabedoria popular em torno da morte Marco Aurélio dizia: “Na morte está o repouso dos contragolpes dos sentidos, dos movimentos impulsivos que nos arrastam para cá e para lá como marionetas, das divagações de nossos raciocínios, dos cuidados que devemos ter para com o corpo” (Recordações, VI, 28). Leibniz concebia o fim do ciclo vital como diminuição ou involução da vida: “Não se pode falar de geração total ou de morte perfeita, entendida rigorosamente como separação da alma. O que nós chamamos de geração sem desenvolvimentos e acréscimos, e o que chamamos de morte são involuções e diminuições” (Monad., § 73). Em outros termos, com a morte a vida diminui e desce para um nível inferior ao da apercepção ou consciência, para uma espécie de “aturdimento”, mas não cessa (Principes de la nature et de la grâce, 1714, § 4). Por sua vez, Hegel considera a morte como o fim do ciclo da existência individual ou finita, pela impossibilidade de adequar-se ao universal: “A inadequação do animal à universalidade é sua doença original e germe inato da morte A negação desta inadequação é o cumprimento de seu destino” (Enc., § 375). Finalmente, o conceito bíblico de morte como pena do pecado original (Gen., II, 17; Rom., V, 12) é, ao mesmo tempo, conceito dela como conclusão do ciclo da vida humana perfeita em Adão e o conceito de limitação fundamental imposta à vida humana a partir do pecado de Adão. Tomás de Aquino diz a respeito: “A morte, a doença e qualquer defeito físico decorrem de um defeito na sujeição do corpo à alma. E assim como a rebelião do apetite carnal contra o espírito é a pena pelo pecado dos primeiros pais, também o são a morte e todos os outros defeitos físicos” (S. Th., II, 2, q. 164, a. 1). Porém este segundo aspecto, típico da teologia cristã, pertence propriamente ao conceito de morte como possibilidade existencial.
c) O conceito de morte como possibilidade existencial implica que a morte não é um acontecimento particular, situável no início ou no término de um ciclo de vida do homem, mas uma possibilidade sempre presente na vida humana, capaz de determinar as características fundamentais desta. Na filosofia moderna, a chamada filosofia da vida, especialmente com Dilthey, levou à consideração da morte nesse sentido: “A relação que caracteriza de modo mais profundo e geral o sentido de nosso ser é a relação entre vida e morte porque a limitação da nossa existência pela morte é decisiva para a compreensão e a avaliação da vida” (Das Erlebnis und die Dichtung, 5a ed., 1905, p. 230). A ideia importante aqui expressa por Dilthey é que a morte constitui “uma limitação da existência”, não enquanto término dela, mas enquanto condição que acompanha todos os seus momentos. Essa concepção, que, de algum modo, reproduz no plano filosófico a concepção de morte da teologia cristã, foi expressa por Jaspers com o conceito da situação-limite como “situação decisiva, essencial, que está ligada à natureza humana enquanto tal e é inevitavelmente dada com o ser finito” (Psychologie der Weltanschauungen, 1925, III, 2; trad. it., p. 266; cf. Phil, II, pp. 220 ss.). Referindo-se a esses precedentes, Heidegger considerou a morte como possibilidade existencial: “A morte, como fim do ser-aí (Dasein), é a sua possibilidade mais própria, incondicionada, certa e, como tal, indeterminada e insuperável” (Sein und Zeit, § 52). Sob este ponto de vista, de possibilidade, “a morte nada oferece a realizar ao homem e nada que possa ser como realidade atual. Ela é a possibilidade da impossibilidade de toda relação, de todo existir” (Ibid., § 53). E já que a morte pode ser compreendida só como possibilidade, sua compreensão não é esperá-la nem fugir dela, “não pensar nela”, mas a sua antecipação emocional, a angústia . A expressão usada por Heidegger ao definir a morte como “possibilidade da impossibilidade” pode com razão parecer contraditória. Foi sugerida a Heidegger por sua doutrina da impossibilidade radical da existência: a morte é a ameaça que tal impossibilidade faz pairar sobre a existência. A prescindir dessa interpretação da existência em termos de necessidade negativa, pode-se dizer que a morte é “a nulidade possível das possibilidades do homem e de toda a forma do homem” (Abbagnano, Struttura dell’esistenza, 1939, § 98; cf. Possibilita e liberta, 1956, pp. 14 ss.). Já que toda possibilidade, como possibilidade, pode não ser, a morte é a nulidade possível de cada uma e de todas as possibilidades existenciais; nesse sentido, Merleau-Ponty diz que o sentido da morte é a “contingência do vivido”, “a ameaça perpétua para os significados eternos em que este pensa expressar-se por inteiro” (Structure du comportement, 1942, IV, II, § 4). (Abbagnano)
A cessação definitiva da vida. — Toda filosofia parece, como dizia o romancista Pasternak, “um imenso esforço para sobrepujar o problema da morte e do destino”. Como se apresenta a ideia da morte?
I. — O sentimento da morte. Se a natureza não dotou o homem de um instinto que o advertisse sobre a data e a hora exata de sua morte — diz Bergson em As duas fontes —, é que daí resultaria um sentimento totalmente deprimente, capaz de aniquilar qualquer vontade de ação e qualquer desejo elementar de viver. A natureza, assim, não nos deu um instante que nos permitisse adivinhar o momento preciso da morte. Daí resulta que a ideia da morte não é, para o homem, uma ideia precisa, mas um sentimento indeterminado de “angústia”: não se pode dizer que se tem “medo” da morte, na medida em que medo se refere a um objeto determinado (tem-se medo de alguma coisa, de um leão etc.); a angústia, ao contrário, não evoca um objeto determinado, mas sim uma presença vaga e latente, uma possibilidade permanente, cujos sinais anunciadores são as doenças, os perigos exteriores e a fadiga do organismo. Na verdade, do ponto de vista psicológico, a presença em nós da ideia da morte é somente o sinal e a prova do exercício da inteligência. Ela persegue, em geral, o tédio da inação; entretanto, como esse tédio é, ele próprio, o ponto de partida da reflexão, todos os pensadores têm sido levados naturalmente a ligar a ideia — até mesmo a angústia — da morte com o exercício da reflexão. Os pensadores modernos (Jaspers, Heidegger, aliás em seguida a Hegel) fizeram uma distinção entre a “vida orgânica” e a “existência humana”, definindo a existência como a vida mais a consciência da morte. Só o homem — e nunca os animais — pode conhecer a angústia da morte. No desenvolvimento da personalidade, a angústia da morte aparece (por volta dos quinze anos no rapaz) com o nascimento da reflexão sobre si. Em geral, o homem lança-se na ação para fugir da ideia da morte, que, em compensação, escolta e envolve — como seu motor e objeto último —n qualquer reflexão filosófica (Platão, Hegel, Heidegger).
II. — O que se pode pensar da morte? Quase todas as religiões do mundo fazem-nos conceber a morte como o momento do julgamento final. Certas passagens do Apocalipse precisam que esse julgamento só poderia ocorrer com o fim da humanidade, no momento em que tudo estará preparado para julgar de maneira definitiva as consequências últimas de nossas ações no mundo, que, na verdade, nos escapam e estão sempre mudando. Na religião cristã, a morte do corpo é interpretada como o momento do renascimento do espírito em Deus. Concebe-se dois tipos de imortalidade: a da alma individual (Platão, doutrina cristã) e a da alma individual integrando-se numa totalidade universal (imortalidade impessoal, sustentada, por exemplo, por Spinoza). Na verdade, entretanto, é preciso reconhecer, com Sócrates, que não se pode pensar concretamente nada da morte. “Enquanto estamos lá, ela não está, e quando ela está, não estamos mais.” É então mais útil destacar o ensino que pode trazer para a vida humana o sentimento da morte.
III. — As reações ao sentimento da morte. O sentimento da limitação de nossa vida individual provoca uma reação natural; o indivíduo quer perpetuar-se além dela. A necessidade de ter filhos responde a “esse desejo de eternidade” (título de uma obra de F. Alquié). O indivíduo morre mas se perpetua na espécie (para Marx, nesse sentido “a morte aparece como a dura vitória da espécie sobre o indivíduo”). O desejo de eternidade pode manifestar-se por uma obra histórica: cultural, artística, política. A obra assegura a perpetuidade do indivíduo e a história é o juízo final que faz viver eternamente os heróis e que enterra no esquecimento os que nada fizeram de sua vida. (Essa religião da história foi expressa por Vigny; foi o princípio da filosofia de Hegel: Weltgeschichte ist Weltgerichte, “a história do mundo é o julgamento do mundo”.
Contudo, se refletimos, vemos que a humanidade, que nasceu há alguns milhares de anos, terá necessariamente uma morte: é a definição da vida. A espécie e a história humanas são, elas mesmas, limitadas; há uma pré-história, haverá uma idade pós-histórica. A morte e a vida do indivíduo tomam então um significado absoluto: para o homem, não há verdade da vida além- da vida presente. Por isso, os filósofos que pensaram de maneira radical (Platão, Spinoza, Leibniz, Fichte, Hegel) julgaram que o destino do homem só podia consistir na presença total de si mesmo na vida, no máximo de atividade. Essa vontade de viver totalmente — que é uma reação ao sentimento da morte — pode exprimir-se, como mostrou Albert Carnus, através de um desejo imoderado de “gozar” a vida. Mas os gozos sensíveis não satisfazem inteiramente o homem. A maioria dos filósofos reconheceu que essa presença total do homem — não somente física, mas inteligente — em sisi mesmo, só poderia realizar-se no trabalho intelectual, na criação espiritual de uma obra, na reflexão filosófica propriamente dita (Spinoza, Fichte, Hegel). Resta, então, viver-se plenamente a vida, agir-se ao máximo no caminho em que nossa vontade e as circunstâncias nos colocaram, prosseguir-se uma obra e um trabalho, pois além da existência individual, das decisões atuais, da ação eficaz ou do momento de criação espiritual, existe apenas uma história problemática e, no que concerne à morte, um nada inconcebível. (Larousse)
HOMEM — MORTE
VIDE: EXTREMA-UNÇÃO; RASCOOARNO
Uma das interrogações maiores às quais diferentes sistemas religiosos ensaiaram responder: o que sucede ao homem após a morte? Qualquer tentativa de cobrir tema tão vasto, quanto mais em páginas Internet, de maneira satisfatória é impossível. Deste modo escolhemos apenas alguns aspectos, de tradições privilegiadas neste site e de outras superficialmente tratadas, para reunir o que encontramos de significativo sobre a “questão da morte”. A começar pelas considerações de René Guénon sobre a “morte antes da morte”, ou a “morte iniciática”, e o desdobramento dos eventos quando da morte.
René Guénon:
*MORTE INICIÁTICA
*ESTADOS PÓSTUMOS
Ananda Coomaraswamy
Cuando Muerte, la Persona en el Sol, el Soplo, abandona su sede en el corazón y parte (utkramati), nosotros somos «cortados». De aquí, con referencia a los dos sí mismos de Aitareya Áranyaka II.5, etc., la pregunta de Prasna Upanishad VI.3, «Cuando yo parta, ¿en cuál (sí mismo) estaré yo partiendo (utkrantah)?».
Pierre Gordon: A IMAGEM DO MUNDO NA ANTIGUIDADE
A imagem antiga do mundo se apoia sobre esta ideia subjacente que o homem sobrevive depois do que denominamos a morte. A origem desta noção fundamental não foi jamais claramente compreendida até aqui porque se raciocinou como se o ser<ser humano, lançado desde o início no universo das sensações, tivesse que imaginar todas as peças de um outro mundo e descobrir índices atestando a existência real. Esta teoria é estranha aos fatos. A certeza absoluta da imortalidade preexistiu à experiência da morte. Em outros termos, o homem de modo algum partiu da morte para alcançar — por uma série de hipóteses, de intuições ou de especulações (repousando antes de tudo sobre os sonhos) — à ideia incerta de uma sobrevivência. Ele se instalou, de pronto, graças à iniciação, no oceano da vida eterna; e a morte lhe apareceu, por aí mesmo, como uma coisa acidental, decorrente de maya, mas não afetando de modo algum sua própria natureza. Ou seja, a certeza da sobrevivência é a resultante, desde o começo, de que o homem em sua realidade verdadeira é um super-homem. Para o primeiro ancestral, alias para o primeiro-homem, eis aí uma evidência experimental. Seus descendentes se beneficiaram desta evidência graças aos ritos e às disciplinas iniciáticas, que restauravam neles o estado de super-homem, e, por esta via, os tornavam mestres da morte. A noção de sobrevivência é portanto tão primitiva quanto a humanidade, e as gerações longínquas, por conta de sua mentalidade ontológica, não tiveram que se debater sobre este ponto em nossas hesitações. Ninguém ignora de que maneira a certeza primitiva foi restaurada a este respeito, pelo fundador do cristianismo, que a apoiou conforme os princípios da nova iniciação, sobre uma experiência não mais ontológica e transcendente, mas espaço-temporal.
Jean Tourniac: VIDA PÓSTUMA E RESSURREIÇÃO
*MORTE — SÍMBOLOS
*LIVROS DOS MORTOS
*ARS MORIENDI
*VIDA APÓS A MORTE
*JULGAMENTO DOS MORTOS
*NECROMANCIA
*MEDITAÇÃO SOBRE A MORTE
- Frithjof Schuon
- René Guénon
Frithjof Schuon
Há dois momentos na vida que são tudo, e são o momento presente, no qual somos livres para eleger o que queremos ser, e o momento da morte, no qual já não temos nenhuma eleição e no qual a decisão é de Deus. Bem, se o momento presente é bom, a morte será boa; se estamos agora com Deus – neste presente que renova sem cessar , mas que sempre é este único momento atual -, Deus estará conosco no momento de nossa morte. A lembrança de Deus é uma morte na vida; será uma vida na morte. [Schuon PP]