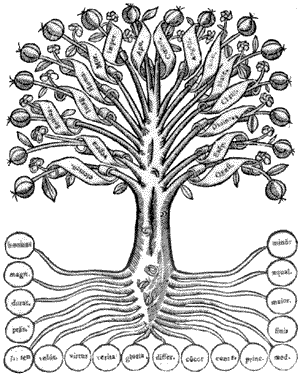gr. koinon
A não mundanidade como um fenômeno político só é possível com a premissa de que o mundo não durará; mas, com tal premissa, é quase inevitável que a não mundanidade venha, de uma forma ou de outra, a dominar a cena política. Foi o que sucedeu após a queda do Império Romano e parece estar ocorrendo novamente em nosso tempo – embora por motivos bem diferentes e de forma muito diversa, e talvez bem mais desalentadora. A abstenção cristã das coisas mundanas não é, de modo algum, a única conclusão a se tirar da convicção de que o artifício humano, produto de mãos mortais, é tão mortal quanto os seus artífices. Isso pode também, pelo contrário, intensificar o gozo e o consumo das coisas do mundo e de todas as formas de intercâmbio nas quais o mundo não é fundamentalmente concebido como o koinon, aquilo que é comum a todos. Só a existência de um domínio público e a subsequente transformação do mundo em uma comunidade de coisas que reúne os homens e estabelece uma relação entre eles dependem inteiramente da permanência. Se o mundo deve conter um espaço público, não pode ser construído apenas para uma geração e planejado somente para os que estão vivos, mas tem de transcender a duração da vida de homens mortais.
Sem essa transcendência em uma potencial imortalidade terrena, nenhuma política, no sentido restrito do termo, nenhum mundo comum nem domínio público são possíveis. Pois, diferentemente do bem comum tal como o cristianismo o concebia – a salvação da própria alma como interesse comum a todos –, o mundo comum é aquilo que adentramos ao nascer e que deixamos para trás quando morremos. Transcende a duração de nossa vida tanto no passado quanto no futuro, preexistia à nossa chegada e sobreviverá à nossa breve permanência nele. É isso o que temos em comum não só com aqueles que vivem conosco, mas também com aqueles que aqui estiveram antes e com aqueles que virão depois de nós. Mas esse mundo comum só pode sobreviver ao vir e ir das gerações na medida em que aparece em público. É a publicidade do domínio público que pode absorver e fazer brilhar por séculos tudo o que os homens venham a querer preservar da ruína natural do tempo. Durante muitas eras antes de nós – mas já não agora –, os homens ingressavam no domínio público por desejarem que algo seu, ou algo que tinham em comum com outros, fosse mais permanente que as suas vidas terrenas. (Assim, a desgraça da escravidão consistia não só em ser privado de liberdade e de visibilidade, mas também no medo dessas mesmas pessoas obscuras “de que, por serem obscuros, morressem sem deixar vestígio algum de terem existido” [v. escravo]). Talvez a mais clara evidência do desaparecimento do domínio público na era moderna seja a quase completa perda de uma autêntica preocupação com a imortalidade, perda esta um tanto eclipsada pela perda simultânea da preocupação metafísica com a eternidade. Esta última, por ser a preocupação dos filósofos e da vita contemplativa, deve permanecer fora de nossas considerações atuais; mas a primeira é atestada pela atual identificação da busca da imortalidade com o vício privado da vaidade. De fato, nas condições modernas, é tão improvável que alguém aspire sinceramente à imortalidade terrena que possivelmente temos razão de ver nela apenas a vaidade.
O famoso trecho de Aristóteles – “ao considerar os assuntos humanos não se deve (…) considerar o homem como ele é nem considerar o que é mortal nas coisas mortais, mas pensar neles [somente] na medida em que têm a possibilidade de imortalizar” – aparece, muito adequadamente, em uma de suas obras políticas.[Ética Nicomaqueia, 1177b31] Pois a pólis era para os gregos, como a res publica para os romanos, antes de tudo sua garantia contra a futilidade da vida individual, o espaço protegido contra essa futilidade e reservado à relativa permanência dos mortais, se não à sua imortalidade.
[…]Nas condições de um mundo comum, a realidade não é garantida primordialmente pela “natureza comum” de todos os homens que o constituem, mas antes pelo fato de que, a despeito de diferenças de posição e da resultante variedade de perspectivas, todos estão sempre interessados no mesmo objeto. Quando já não se pode discernir a mesma identidade do objeto, nenhuma natureza humana comum, e muito menos o conformismo artificial de uma sociedade de massas, pode evitar a destruição do mundo comum, que é geralmente precedida pela destruição dos muitos aspectos nos quais ele se apresenta à pluralidade humana. Isso pode ocorrer nas condições do isolamento radical, no qual ninguém mais pode concordar com ninguém, como geralmente ocorre nas tiranias; mas pode também ocorrer nas condições da sociedade de massas ou de histeria em massa, em que vemos todos passarem subitamente a se comportar como se fossem membros de uma única família, cada um a multiplicar e prolongar a perspectiva do vizinho. Em ambos os casos, os homens tornam-se inteiramente privados, isto é, privados de ver e ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles. São todos prisioneiros da subjetividade de sua própria existência singular, que continua a ser singular ainda que a mesma experiência seja multiplicada inúmeras vezes. O mundo comum acaba quando é visto somente sob um aspecto e só se lhe permite apresentar-se em uma única perspectiva. [ArendtCH, 7]