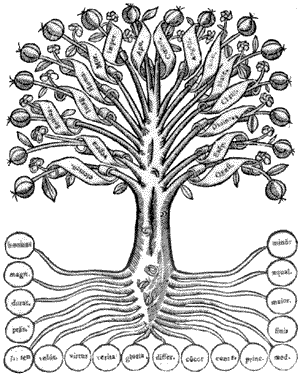(gr. polemos; lat. bellum; in. War; fr. Guerre; al. Krieg; it. Guerra).
Alguns filósofos da Antiguidade atribuíram um valor cósmico à guerra, uma função dominante na economia do universo. Foi o que fez Heráclito, que chamou a guerra de “mãe e rainha de todas as coisas” (Fr. 53, Diels), afirmando que “a guerra e a justiça são conflitos e, por meio do conflito, todas as coisas são geradas e chegam à morte” (Fr. 80, Diels). Foi o que fez também Empédocles, que, ao lado da Amizade (ou Amor), como força que une os elementos constitutivos do mundo, pôs o Ódio ou a Discórdia que tende a desuni-los (Fr. 17, Diels). Outros filósofos, como Hobbes, afirmaram que o estado de guerra é o estado “natural” da humanidade, no sentido de que é o estado a que ela seria reduzida sem as normas do direito, ou do qual procura sair mediante essas regras (Leviath., I, 13). Mas, não obstante essas ideias ou semelhantes, os filósofos esforçaram-se constantemente por evidenciar e encorajar os esforços dos homens para evitar as guerra ou para diminuir as situações que lhes dão origem. Por vezes, ocuparam-se em formular projetos nesse sentido (v. paz). A exceção a essa regra é representada por Hegel, que considerou a guerra como uma espécie de “juízo de Deus”, do qual a providência histórica se vale para dar a vitória à melhor encarnação do Espírito do mundo. Hegel afirma, por um lado, que, “assim como o movimento dos ventos preserva o mar da putrefação à qual o reduziria a quietude duradoura, a isso reduziria os povos a paz duradoura ou perpétua” (Fil. do dir., § 324), e por outro lado julga que, no plano providencial da história do mundo, um povo sucede ao outro no encarnar, realizar ou manifestar o Espírito do mundo, dominando, em nome e por meio dessa superioridade, todos os outros povos. A guerra pode ser um episódio dessa alternância, desse juízo de Deus proferido pelo “Espírito do mundo”, “Em geral”, diz Hegel, “a isso está ligada uma força externa que destitui com violência o povo do domínio e faz que ele deixe de ter primazia. Essa força exterior, porém, só pertence ao fenômeno; nenhuma força externa ou interna pode impor sua eficácia destruidora em face do Espírito do povo, se este já não estiver exânime, extinto” (Philosophie der Geschichte, ed. Lasson, p. 47). Essas afirmações de Hegel equivalem a justificar qualquer guerra vitoriosa que, como tal, estaria nos planos providenciais da Razão. Constituem, portanto, uma monstruosidade filosófica que, entretanto, não deixou de ter defensores e seguidores, dentro e fora do círculo da filosofia hegeliana. (Abbagnano)
A prova de força entre povos (guerra nacional) ou entre partidos (guerra civil). — Os moralistas e os filósofos se preocuparam com o problema da guerra, ou para denunciar os seus crimes ou para procurar as suas causas e motivações: se é certo que a guerra está ligada às paixões humanas (Platão, Alain:” Há apenas guerras de religião”) como o ódio, o orgulho etc. é preciso, contudo, distinguir as paixões individuais e as razões que podem decidir as ações do Estado: o estadista não pode agir por paixão, deve examinar os problemas ao nível da totalidade e com toda a serenidade. Será a guerra, nesse nível, uma necessidade ou um acidente? No seu tempo, Hegel considerava a guerra como uma necessidade biológica: “Somente a guerra pode abalar uma sociedade e fazê-la tomar consciência de si própria”; Renan comentava que: “A guerra é uma das condições do progresso, a chicotada que impede uma nação de adormecer”. E, de fato, as guerras fazem progredir as ciências (a ciência atômica desenvolveu-se febrilmente com a guerra). É fato também, que as sociedades adormecidas (no caos político, social e a ruína econômica) nos nossos dias, estão destinadas a desaparecer. Desse ponto de vista, a guerra não é por si só necessária; basta o risco de guerra, ou “guerra fria”, ou guerra subversiva e psicológica, para estimular a atividade das nações e transformar os conflitos em concorrência (econômica, científica, técnica etc.). A necessidade de se manter o risco de guerra pode ser também uma necessidade de política interna (China comunista), para desviar a opinião pública das dificuldades internas e justificar os rigores particularmente experimentados em um trabalho cotidianamente encarniçado. Em alguns países, a guerra pode assumir o aspecto de uma necessidade demográfica, realizando uma espécie de “sangria” que põe fim ao desemprego e à fome (a guerra da Coreia [1950-1953] foi uma “libertação” para a China comunista). Finalmente, a guerra pode ser concebida como uma necessidade econômica — a economia capitalista, dizia Marx, só poderá dar vazão à sua produção e evitar a “crise” por meio da guerra (“colonialista”, “imperialista”). De fato, todas essas causas da guerra podem ser resumidas em duas: 1) a fome: enquanto houver nações sub-desenvolvidas ao lado de nações ricas, homens passando fome junto a sociedades prósperas, existirá o risco de guerra; 2.° a liberdade política: a) “A guerra será santa, dizia Fichte, quando a independência, condição da cultura, fôr ameaçada”. Defender sua nação é um dever; b) entretanto, enquanto existir regimes tirânicos, esmagando as liberdades individuais (países comunistas) ao lado de nações livres, enquanto um “muro” for necessário para impedir que populações prisioneiras escapem para a liberdade e que façam o vazio demográfico sob os governos de ditadura, haverá risco de guerra. Era a ideia de Kant no seu Projeto de paz perpétua: “Somente povos governados democraticamente podem construir entre eles uma paz perpétua”. Hoje, pode-se distinguir as guerras limitadas, que podem ser interpretadas como a “continuação da política por outros meios”, e as “guerras totais” que não poderiam ter nenhuma significação nem justificação. Observamos que os perigos de uma destruição atômica universal criam uma “nova solidariedade” entre os povos, e impelem os homens para que compreendam e dominem esse fenômeno trágico. (V. progresso.) (Larousse)
A guerra, enquanto dirigida contra aqueles que perturbam a ordem e com o objetivo de reconduzi-los a essa ordem, constitui uma função legítima, que no fundo é um dos aspectos da função de “justiça”, entendida esta em sua acepção mais geral. No entanto, esse é o seu lado mais exterior, portanto o menos essencial. Do ponto de vista tradicional, o que dá todo valor à guerra compreendida dessa forma, é o fato de ela simbolizar a luta que o homem deve conduzir contra os inimigos que traz em si próprio, isto é, contra todos os elementos que, nele, são contrários à ordem e à unidade. Nos dois casos, porém, quer se trate da ordem exterior e social ou da ordem superior e espiritual, a guerra deve sempre tender a estabelecer o equilíbrio e a harmonia (é por isso que ela se refere de modo especial à “justiça”) e, assim, a unificar de certo modo a multiplicidade de elementos em oposição entre si. Isso quer dizer que o seu fim normal, e sem dúvida sua única razão de ser, é a paz (es-salam), que só pode ser verdadeiramente obtida pela submissão à vontade divina (el-islam), colocando cada elemento em seu lugar com a finalidade de fazê-los todos concorrerem para a realização consciente de um mesmo plano. E vale a pena observar o quanto, na língua árabe, os termos el-islam e es-salam têm estreito parentesco entre si. (Guénon)