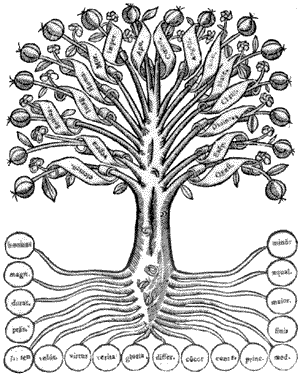(lat. Consensus gentium).
Na obra de Aristóteles é comum a referência à “opinião de todos” como prova ou contraprova da verdade; em Ética a Nicômaco, (X, 2, 1.172 b 36) diz explicitamente: “Aquilo em que todos consentem, dizemos que assim é, já que rejeitar semelhante crença significa renunciar ao que é mais digno de fé”. Os estoicos, por sua vez, insistiram no valor do consenso universal, donde a importância que tiveram para eles as “noções comuns”, pelo fato de se formarem igualmente em todos os homens, ou naturalmente ou por efeito da educação (D. L., VII, 51). Todavia, só os Ecléticos fizeram do consenso comum o critério da verdade; Cícero exprimia o ponto de, vista deles quando dizia: “Em todos os assuntos, o consenso de todas as gentes deve ser considerado lei natural” (Tusc, I, 13, 30). A filosofia moderna, que tem Descartes como ponto de partida, pretendeu instaurar uma crítica radical do saber comum e, por isso, não viu mais no consenso comum, que sustenta esse saber, garantia ou valor de verdade. Portanto, só raramente recorre ao consensus gentium. Isso se observa na escola escocesa do senso comum, encabeçada por Tomás Reid (1710-96). Opõe-se sobretudo ao cetismo de Hume, e para superá-lo recorre ao consenso universal, que apoiaria as ideias, criticadas por Hume, de substância, causa, etc. (Indagação sobre o espírito humano segundo os princípios do senso comum, 1764) (v. senso comum). O recurso ao consenso comum muitas vezes constitui uma prova da existência de Deus (v. provas de Deus). Por outro lado também serviu de fundamento à noção de direito natural. Mas estes e outros usos eventuais não modificam a substância da noção, que é a tentativa de colocar ao abrigo da crítica conhecimentos ou preconceitos julgados absolutamente válidos, mas cuja efetiva universalidade seria muito difícil provar. [Abbagnano]